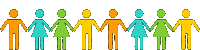Textos publicados nas lâminas – bloco VII
1- Conversa
Fernando Januário
Meu pai chegou em frente ao Copacabana Palace. Antes de atravessar a rua o porteiro do hotel gritou:
— Para você entrar aqui tem que pagar duzentos reais.
Meu pai deu um passo à frente e pensou:
— Como só tenho um real, é melhor eu dormir na areia de Copacabana.
.....................................................................................
2- Imagem-Nação
Fernando Januário
Sobre o que eu vou dizer
Preste muita atenção
Tem imagem que é fantasia
Mais do que uma ilusão
Ela te mostra coisas
Que para ter é impossível
Sua vida é baixa
Não é do mesmo nível
O desespero de quem mostra
Não é o da fome
São os milhões que guardam
E que escondido consomem
Aqui fora a realidade
Anda com a dor
A revolta te abraça
Todo mundo com pavor
.....................................................................................
3- Empregada
Silviano Santiago
Cozinhava e cantava:
Canta, Maria, canta
que a vida é bela,
que a vida é bela,
ó minha Maria.
Aí encontra
o amor de sua vida.
Não é correspondida
e sofre
que a vida não é bela.
Chorava e cozinhava.
À noite, no quarto dos fundos,
toma guaraná champagne
com formicida tatu.
.....................................................................................
4- Não está no gibi
Silviano Santiago
No laboratório
do Mocinho buscam
a fórmula da Bomba atômica
para pôr fim à guerra.
No laboratório
do Bandido trabalha
o sinistro Dr. Silvana
dando armas poderosas ao Crime.
O Super-Homem dá combate
sem tréguas
ao cientista do Mal.
Quem vai se opor
ao cientista do Bem?
.....................................................................................
5- A lenda da cobra grande
(Região Norte do Brasil, Pará e Amazonas)
Essa é uma das mais conhecidas lendas do folclore amazônico.
Numa tribo indígena da Amazônia, uma índia, grávida da Boiúna (Cobra-grande, Sucuri), deu à luz duas crianças gêmeas que na verdade eram Cobras.
Um menino, que recebeu o nome de Honorato ou Nonato, e uma menina chamada Maria.
Para ficar livre dos filhos, a mãe jogou as duas crianças no rio. Lá no rio eles, como Cobras, se criaram.
Honorato era bom, mas sua irmã era muito perversa. Prejudicava os outros animais e também as pessoas.
Eram tantas as maldades praticadas por ela que Honorato acabou por matá-la para pôr fim às suas perversidades.
Honorato, em algumas noites de luar, perdia o seu encanto e adquiria a forma humana transformando-se em um belo rapaz, deixando as águas para levar uma vida normal na terra.
Para que se quebrasse o encanto de Honorato era preciso que alguém tivesse muita coragem para derramar leite na boca da enorme cobra,
e fazer um ferimento na sua cabeça até sair sangue.
Ninguém tinha coragem de enfrentar o enorme monstro.
Até que um dia um soldado de Cametá (município do Pará) conseguiu fazer tudo isso e libertar Honorato da maldição.
E ele deixou de ser cobra d'água para viver na terra com sua família.
.....................................................................................
6- Lentes
Silviano Santiago
Meus olhos buscam
o binóculo
e não o encontram.
Meus olhos buscam
as coisas
e as vêem turvas.
Meus olhos querem
diminuir a névoa
entre mim e o mundo.
Meus olhos pensam
as lentes
antes do oculista.
.....................................................................................
7- A Lenda do Boto
(Região Norte do Brasil, Amazonas)
Existem dois tipos de botos na Amazônia, o rosado e o preto, sendo cada um de diferente espécie com diferentes hábitos e envolvidos em diferentes tradições. Viajando ao longo dos rios, é comum ver um boto mergulhando ou ondulando as águas à distância.
Comenta-se que o boto preto ou tucuxi é amigável e ajuda a salvar as pessoas de afogamentos, mas dizem que o rosado é perigoso.
Sendo de visão ineficiente, os botos possuem um sofisticado sistema de sonar que os ajuda a navegar nas águas barrentas do Rio Amazonas.
Depois do homem eles são os maiores predadores de peixes. A lenda do boto é também uma crença que o povo costuma lembrar ou dizer como piada quando uma moça encontra um novo namorado nas festas de junho.
É tradição junina do povo da Amazônia festejar os Dias de Santo Antonio, São João e São Pedro.
Nessas noites se fazem fogueiras e se queimam foguetes. Também há consumo de comidas típicas e se dançam quadrilhas ao som alegre das sanfonas.
As lendas contam que nessas noites, quando as pessoas estão distraídas celebrando, o boto rosado aparece transformado em um bonito e elegante rapaz, mas sempre usando um chapéu, porque sua transformação não é completa e suas narinas se encontram no topo de sua cabeça fazendo um buraco. Como um cavalheiro, ele conquista e encanta a primeira jovem bonita que encontra, leva-a para o fundo do rio, engravidando-a, e nunca mais volta para vê-la. Durante essas festividades, quando um homem aparece usando um chapéu, as pessoas pedem para que ele o retire para que não pensem que é um boto. E quando uma jovem engravida e não se sabe quem é o pai da criança, é comum se dizer que é um “filho do boto”.
.....................................................................................
8- A Lenda da Mandioca
(Região Norte do Brasil, Amazonas)
A mandioca é uma raiz amidosa, muito volumosa, usada para fazer um especial tipo de farinha. A farinha da mandioca faz parte da comida diária dos nativos da Amazônia, sendo usada sozinha ou com arroz, batata e milho, como acompanhamento para peixe, carne ou feijão. Essa raiz possui um forte veneno, cianide, que precisa ser eliminado durante a preparação da farinha. Isso é feito durante o cozimento ou a fermentação da raiz. A massa obtida é tostada e, assim, fica pronta para a armazenagem.
Em épocas remotas, a filha de um poderoso tuxaua foi expulsa de sua tribo e foi viver em uma velha cabana distante por ter engravidado misteriosamente. Parentes longínquos iam levar-lhe comida, e assim a índia viveu até dar à luz uma linda menina, muito branca, à qual chamou de Mani. A notícia do nascimento espalhou-se por todas as aldeias e fez o grande chefe tuxaua esquecer as dores e os rancores e cruzar os rios para ver sua filha. O novo avô se rendeu aos encantos da linda criança a qual se tornou muito amada por todos. No entanto, ao completar três anos, Mani morreu de forma também misteriosa, sem nunca ter adoecido. A mãe ficou desolada e enterrou a filha perto da cabana onde vivia e sobre ela derramou seu pranto por horas.
Então, seus olhos cansados e cheios de lágrimas viram brotar sobre a campa da filha uma planta que cresceu rápida e fresca.
Todos vieram ver a planta miraculosa que mostrava raízes grossas e brancas, em forma de chifre. Todos queriam provar das raízes, em honra da criança que tanto amavam. Desde então a planta passou a ser um excelente alimento para os índios e para toda a região.
Entre nós, seu nome é formado pelas palavras mandi (uma variante de Mani, o nome da criança) e oca (uma variante de aca, que significa “semelhante a um chifre”).
.....................................................................................
9- ESTOU ROUBADO! (texto adaptado)
Raul Pompéia
Estou roubado! exclamou o Tancredo num dia de expansões.
Ele tinha expansões. Era do seu caráter exibir-se de vez em quando voltado ao avesso. Punha na rua todas as franquezas.
Franquezas ou fraquezas, como queiram, porque no caso Tancredo era franco a respeito de si próprio.
Há no Norte o costume grotesco de andarem os cafajestes, durante o entrudo, com os paletós virados, mostrando o forro e as costuras, por causa do polvilho que se arremessa aos transeuntes. Tancredo fazia uma coisa assim, mais ou menos. Quando estava de lua, lá saía...
Todas essas intimidades que o recato encobre, todo esse estofo que forma o avesso das aparências sociais, ele punha à mostra.
Inventava, no gênero cômico, o extremo oposto de Tartufo. Exibia desabridamente o forro de si mesmo.
Alguns dias depois de casado encontra-se ele com o primeiro conhecido. Era um dia dos tais. Falam do consórcio.
- Estou roubado! bradou Tancredo.
- Pois esse casamento não era o teu sonho de ventura?!
- Ah! Meu amigo. Enganei-me redondamente... Sabes o meu gênio... Eu sonhava um amor de fogo. Chamas, chamas, chamas, um amor vulcânico, feito de incêndio e lava, um inferno de amor que me calcinasse o peito... Imagina lá que me saiu uma esposa fria!... Fria, meu amigo!... Estou casado com o Pólo Norte em pessoa!... Lembras-te do Capitão Hatteras de Júlio Verne?...Minha mulher é aquilo... Ora, só a mim sucederia uma destas...
Casado com um iceberg!
- Pois não a conhecias?
- Ora, qual! Ver, amar, casar, foi o que fiz... Sonhava com uma mulher ardente, com pólvora nas veias, capaz de voar pelos ares ao fogo da minha paixão. Qual explosão nem nada!... Aos meus afagos, boceja! Desarma os meus carinhos com uma frieza revoltante... Não sei a que expediente recorrer...
- Mas a tua esposa não te ama?
- Eu lá sei!... As mulheres frias amam alguém neste mundo? O que afianço é que a minha cara-metade me congela... Não sei como, a estas horas, já não estou um sorvete, exposto aos rigores daquele inverno!... Inverno, meu bom amigo, inverno para mim que sonhava um matrimônio de primaveras e verões. Quem diria! Quando eu me inflamava ao fogo daquele olhar... que naquele olhar não havia fogo! Tanto viço, tanta mocidade! E uma frieza tamanha. Ao vê-la, eu acreditava na embriaguez do amor, na febre do sentimento, no vinho de Hebe e nos seus efeitos. Qual vinho de Hebe! Puro Fritz, Mack & C. Ainda em cima, frappé!... Estou roubado! Roubado nas minhas ilusões!... Queria uma mulher... E o senhor, meu sogro, serviu-me uma cajuada! Ora, cajuadas tenho eu no Leite Borges!... Banhos frios, de igreja... quando tinha o meu chuveiro!...
- Homem, Tancredo, não acredito muito nessa história de mulheres de gelo... A questão é achar-se a corda sensível...
- Qual corda sensível!... Minha mulher não tem corda sensível!...
.....................................................................................
10-
Dieter Roos
dando nomes
aprisionamos
a liberdade natural
das coisas
.....................................................................................
11-
Dieter Roos
quem tem
nesse mundo da ciência
ainda a coragem
de ter uma
opinião própria?
.....................................................................................
12-
Dieter Roos
liberdade!
liberdade!
com a bagagem amarga
da lembrança!
liberdade?
é aquilo
que você perde
quando quer tê-la!
.....................................................................................
13- O Filho do Comendador
Humberto de Campos
Foi um contentamento para o comendador Felisberto a notícia, que a esposa lhe dera, de que lhe ia oferecer, em breve, um pequeno herdeiro do seu nome, e, sobretudo, da sua fortuna.
- É verdade isso? - exclamou o velho capitalista, contendo os ímpetos do coração.
E como fosse fraco dos nervos, desatou a chorar de satisfação, ensopando de lágrimas de felicidade o seu alvo lenço de linha, vasto como um lençol.
A generosidade do comendador, durante os meses de expectativa, foi espantosa. Fraldas, camisinhas, sapatinhos de lã, barretinhos de seda, tudo isso entrava em quantidade pela porta do palacete, em que dona Enedina engordava contente, esperançada com a idéia de ter, enfim, uma criaturinha do seu sangue.
Passou-se, porém, o quinto mês. E o sexto. E o sétimo. Este último, passou-o o velho capitalista a procurar, sorridente, um nome para o pirralho. E concluiu:
- Se for homem, chamar-se-á Benevenuto.
- E se for mulher? - indagou a esposa.
- Terá o nome da mãe. Será, também, Enedina...
Antes do oitavo mês, o comendador mandou a esposa para a Europa. E trinta dias depois, recebia o seguinte telegrama:
“Comendador Felisberto Maia - Rio. - Extraí fibroma. Saudades – Enedina”.
Para o capitalista, essa notícia foi um choque. E foi furioso, apoplético de raiva, que respondeu imediatamente:
“Madame Felisberto Maia - Paris - Combinação aqui foi dar outro nome criança. Caso insista dar nome Fibroma recém-nascido suspenderei mesada – Felisberto”.
E respirou, com força. Era pai...
.....................................................................................
14-
João do Rio
Oh! abre ala!
Que eu quero passá
Estrela d’Alva
Do Carnavá!
Era em plena rua do Ouvidor. Não se podia andar. A multidão apertava-se, sufocada. Havia sujeitos congestos, forçando a passagem com os cotovelos, mulheres afogueadas, crianças a gritar, tipos que berravam pilhérias. A pletora da alegria punha desvarios em todas as faces.
Era provável que do largo de São Francisco à rua Direita dançassem vinte cordões e quarenta grupos, rufassem duzentos tambores, zabumbassem cem bombos, gritassem cinqüenta mil pessoas. A rua convulsionava-se como se fosse fender, rebentar de luxúria e de barulho. A atmosfera pesava como chumbo. No alto, arcos de gás besuntavam de uma luz de açafrão as fachadas dos prédios. Nos estabelecimentos comerciais, nas redações dos jornais, as lâmpadas elétricas despejavam sobre a multidão uma luz ácida e galvânica, que enlividescia e parecia convulsionar os movimentos da turba, sob o panejamento multicolor das bandeiras que adejavam sob o esfarelar constante dos confetti, que, como um irisamento do ar, caíam, voavam, rodopiavam. Essa iluminação violenta era ainda aquecida pelos braços de luz auer, pelas vermelhidões de incêndio e as súbitas explosões azuis e verdes dos fogos de Bengala; era como que arrepiada pela corrida diabólica e incessante dos archotes e das pequenas lâmpadas portáteis. Serpentinas riscavam o ar; homens passavam empapados d’água, cheios de confetti; mulheres de chapéu de papel curvavam as nucas à etila dos lança-perfumes, frases rugiam cabeludas, entre gargalhadas, risos, berros, uivos, guinchos. Um cheiro estranho, misto de perfume barato, fartum, poeira, álcool, aquecia ainda mais o baixo instinto de promiscuidade. A rua personalizava-se, tornava-se uma e parecia, toda ela policromada de serpentinas e confetti, arlequinar o pincho da loucura e do deboche. Nós íamos indo, eu e o meu amigo, nesse pandemônio. Atrás de nós, sem colarinho, de pijama, bufando, um grupo de rapazes acadêmicos, futuros diplomatas e futuras glórias nacionais, berrava furioso a cantiga do dia, essas cantigas que só aparecem no Carnaval:
Há duas coisa
Que me faz chorá
É nó nas tripa
E bataião navá!
.....................................................................................
15- À Minha Noiva
Arthur Azevedo
“Tu és flor; as tuas pétalas
orvalho lúbrico molha;
eu sou flor que se desfolha
no verde chão do jardim.”
Têm por moda agora os líricos
versos fazer neste estilo...
— Tu és isso, eu sou aquilo,
tu és assado, eu assim...
Às negaças deste gênero,
Carlotinha, não resisto:
vou dizer que tu és isto,
que aquilo sou vou dizer;
tu és um pé de camélia,
eu sou triste pé de alface,
tu és a aurora que nasce,
eu sou fogueira a morrer.
Tu és a vaga pacífica,
eu sou a onda encrespada,
tu és tudo, eu não sou nada,
nem por descuido doutor;
tu és de Deus uma lágrima,
eu sou de suor um pingo,
eu sou no amor o gardingo,
tu Hermengarda no amor.
Os fatos restabeleçam-se,
ó dona dos pés pequenos:
eu sou homem — nada menos,
tu és mulher — nada mais;
eu sou funcionário público,
tu minha esposa bem cedo,
eu sou Artur Azevedo,
tu és Carlota Morais.
.....................................................................................................
16- A Campanha Abolicionista (fragmento)
José do Patrocínio
O Ministério fez questão de confiança da simples apresentação de um projeto de emancipação da escravatura.
A augusta câmara das bofetadas bateu, como sempre, as palmas e, comovida pela eloqüência de Cebolas e Chique-Chique, passou à ordem do dia.
Dias depois o Ministério vestiu-se de casaca, franziu o sobrolho e veio fazer frente à interpelação do Sr. Joaquim Nabuco para que o Governo lhe explicasse em que lei se baseava para intervir numa questão de ordem.
Apesar da proibição expressa do Regimento, o Governo declarou que interveio na questão de ordem, que interviria tantas vezes quantas S. Ex.ª pedisse urgência, e a Câmara achou que é assim que o Governo deve proceder regularmente.
Chegados a esta conclusão, Ministério e Câmara deram a questão por terminada.
O folhetinista não perderá tempo em qualificar o ato da Câmara. O país já a conhece bem; sabe o que ela vale em hombridade e coerência.
Demais para entrar na discussão, em que descobriria o qualificativo, era mister conhecer as irritações do terreiro, as expressões agressivas da revista, e do eito, e, finalmente, esconder a pátria por detrás dos engenhos, ao passo que a pessoa se acocorasse por detrás da imunidade parlamentar e do equívoco.
Isto, porém, tomaria tempo e desviaria a questão da sua verdadeira esfera. Trata-se de conquistar o direito de mais de um milhão de homens, e conciliar essa conquista com os interesses do país. Fique ao parlamento a demagogia legal, e à imprensa a calma de que necessita.
O problema da escravidão está neste pé. A lei de 1831 suprimiu o tráfico e não só declarou criminosos os introdutores, como obrigados à restituição do africano os compradores. Há quarenta e nove anos e dois dias, pois, nenhum africano podia mais ser escravizado no Brasil.
A especulação da carne humana, porém, havia entrado nos hábitos nacionais, e durante vinte e três anos continuou o crime do tráfico.
Tomando a estatística apresentada para alguns anos pela Coleção de Tratados do dr. Pereira Pinto, de saudosa memória, entraram no Brasil:
Em 1845......... 19.453
Em 1846......... 50.324
Em 1847......... 56.172
Em 1848......... 60.000
Em 1849......... 54.000
Em 1850......... 23.000
Soma..............262.949
Este enorme algarismo de africanos é, porém, para seis anos, e sabemos que durante vinte e três anos certos, ainda que haja quem afirme que só em 1856 acabou definitivamente o tráfico; durante vinte e três anos deu-se o infame comércio. Não é muito, pois, calcular a média dos outros anos em 20.000 homens entrados no país, o que dá 340.000, ou de 1831 a 1854 .......... 602.949.
.....................................................................................................
17- O Mar
Evaldo Balbino
Na carícia do vento,
no toque da areia fina,
a fita azulada das águas
se banha;
e, no seu modo líquido de existir,
vêem-se vírgulas sonoras,
que são jangadas perdidas
na ânsia das ondas.
Pelo mar nos vêm as notícias
de um mundo ultramarino,
de um mundo fora de nós;
mas o que haverá no fundo
destas águas irrequietas,
nesta bacia feroz?
Onde se escondem os peixes,
cidades e almas penadas,
silêncios, gigantes, sereias,
que ficaram na infância,
que se perderam em nós?
Como, nas águas profundas,
achar pérolas fabulosas
e o grito de alguma voz?
E o mar não nos responde,
calado, ensimesmado,
a esmo, batendo nas rochas,
querendo vê-las por dentro.
E estas não dizem nada,
ficam à espera, paradas,
desse amor tão rude e sedento
do ímpeto das águas do mar.
E as ondas, nesse vai e vem,
rejeitam os nossos corpos,
amam pedras e mais ninguém;
mas parecem, na dança veloz,
desejar a praia inteira,
a areia e o que nela está.
.....................................................................................................
18- A Carne (fragmento)
Júlio Ribeiro
O doutor Lopes Matoso não foi precisamente o que se pode chamar um homem feliz.
Aos dezoito anos de sua vida, quando apenas tinha completado o seu curso de preparatórios, perdeu pai e mãe com poucos meses de intervalo.
Ficou-lhe como tutor um amigo da família, o coronel Barbosa, que o fez continuar com os estudos e formar-se em direito.
No dia seguinte ao da formatura, o honesto tutor passou-lhe a gerência da avultada fortuna que lhe coubera, dizendo:
— Está rico, menino, está formado, tem um bonito futuro diante de si. Agora é tratar de casar, de ter filhos, de galgar posição.
Se eu tivesse filha você já tinha noiva; não tenho, procure-a você mesmo.
Lopes Matoso não gastou muito tempo em procurar: casou-se logo com uma prima de quem sempre gostara e junto à qual viveu felicíssimo por espaço de dois anos.
Ao começar o terceiro, morreu a esposa, de parto, deixando-lhe uma filhinha.
Lopes Matoso vergou à força do golpe, mas, como homem forte que era, não se deixou abater de vez: reergueu-se e aceitou a nova ordem de coisas que lhe era imposta pela imparcialidade brutal da natureza.
Arranjou de modo seguro seus negócios, mudou-se para uma chácara que possuía perto da cidade, segregou-se dos amigos e passou a repartir o tempo entre o manusear de bons livros e o cuidar da filha.
Esta, graças às qualidades da ama que lhe foi dada, cresceu sadia e robusta, tomando-se desde logo a vida, a nota alegre do eremitério que se constituíra Lopes Matoso.
Visitas de amigos raras tinha ele, porque mesmo não as acoroçoava: convivência de fama não tinha nenhuma.
Leitura, escrita, gramática, aritmética, álgebra, geometria, geografia, história, francês, espanhol, natação, equitação, ginástica, música, em tudo isso Lopes Matoso exercitou a filha porque em tudo era perito: com ela leu os clássicos portugueses, os autores estrangeiros de melhor nota, e tudo quanto havia de mais seleto na literatura do tempo.
Aos quatorze anos Helena — ou Lenita, como a chamavam — era uma rapariga desenvolvida, forte, de caráter formado e instrução acima do vulgar.
Lopes Matoso entendeu que era chegado o tempo de tornar a mudar de vida, e voltou para a cidade.
Lenita teve então ótimos professores de línguas e de ciências; estudou o italiano, o alemão, o inglês, o latim, o grego; fez cursos muito completos de matemáticas, de ciências físicas, e não se conservou estranha às mais complexas ciências sociológicas. Tudo lhe era fácil, nenhum campo parecia fechado a seu vasto talento.
Começou a aparecer, a distinguir-se na sociedade.
E não tinha nada de pretensiosa: modesta, retraída mesmo, nos bailes, nas reuniões em que não raro se achava, ela sabia rodear-se de uma aura de simpatia escondendo com arte infinita a sua imensa superioridade.
Quando, porém, algum bacharel formado de fresco, algum touriste recém-vindo de Paris ou de Nova Iorque queria campar de sábio, queria fazer de oráculo em sua presença, então é que era vê-la. Com uma candura adoravelmente simulada, com um sorriso de desdenhosa bondade, ela enlaçava o pedante em uma rede de perguntas pérfidas, ia-o pouco a pouco estreitando em um círculo de ferro e, por fim, com o ar mais natural do mundo, obrigava-o a contradizer-se, reduzia-o ao mais vergonhoso silêncio.
.....................................................................................................
19- A Condessa Vésper (fragmento)
Aluísio Azevedo
Uma noite, trabalhava eu no silêncio do meu gabinete, quando fui procurado por uma velhinha, toda engelhada e trêmula, que me disse em voz misteriosa ter uma carta para mim.
— De quem? Perguntei.
— De um moço que está na casa de Detenção.
— De um preso?! Como se chama ele?
— V. S. vai ficar sabendo pelo que vem nesse papel. Tenha a bondade de ler.
Abri a carta e li o seguinte:
"Prezado Romancista,
Apesar de nunca ter tido a honra de trocar uma palavra com o Sr., já o conheço perfeitamente por suas obras, e por elas lhe aprecio o coração e o caráter. Pode ser que me engane, mas a um rapaz, sem bens de fortuna e sem influência de família, que teve a coragem de reagir contra velhos preconceitos do nosso país, abrindo caminho com a sua pena de escritor transformada em picareta, e posta só a serviço dos fracos e desprotegidos, não pode ser indiferente à desgraça de quem se vê encerrado entre as negras paredes de uma prisão, sem outro companheiro além da própria consciência que o tortura.
Sei que sou criminoso e mereço castigo — matei e não me arrependo de haver matado; matei porque amava loucamente, porque sacrifiquei alma, coração e riqueza a uma mulher indigna e má. Entretanto, se incorri na punição da lei, não fiz por merecer o anátema dos homens justos e generosos; minha vida deve inspirar mais compaixão do que desprezo por mim, e deve aproveitar como lição aos infelizes nascidos nas desastrosas circunstâncias em que vim ao mundo.
Juro que ninguém foi mais leal, nem mais compassivo do que eu, juro que nunca sequer me passou pela mente a mais ligeira idéia de traição ou de fraude; quando, porém, cheguei a compreender até a que ponto de aviltamento e de degradação me arrastara o meu fatídico amor, quando toquei com a fronte no fundo do inferno da perfídia, da ingratidão e de toda a infâmia de que é capaz uma mulher, sucumbi de compaixão por mim próprio, e friamente arranquei a vida daquela por quem houvera eu sacrificado mil vidas que tivesse.
Ao senhor, que conta apenas vinte e três anos de idade, e já conhece tão profundamente o coração dos seus semelhantes, não será com certeza indiferente a história do meu amor, nem lhe repugnarão as confidências enviadas deste cárcere, onde um desgraçado chora e padece, menos pelos remorsos do seu crime do que pelas saudades da sua vítima.
O manuscrito que a esta carta acompanha, feito ao correr da pena sob a imediata impressão dos acontecimentos relatados é flagrante cópia da verdade, e só aspira a servir de medonho espelho para outros infelizes que se deixem como eu se cegar por um amor irrefletido.”
.....................................................................................................
20- Leitura Silenciosa
José Américo Miranda
Já li seu corpo
com os olhos.
Agora quero lê-lo
em Braille.
.....................................................................................................
21- Na Madrugada
José Américo Miranda
Na madrugada fria
entre faces destruídas
de trabalhadores
o rosto de um jovem.
.....................................................................................................
22- O Abismo e o Abismo
Marcelo Dolabela
tire o seu abismo do
abismo que eu quero passar com o meu
abismo hoje pra você eu sou
abismo
abismo não machuca
abismo eu só errei quando juntei meu
abismo ao seu
abismo não pode viver perto de
abismo
é no
abismo que eu vejo o meu
abismo o meu
abismo e os meus
abismo s rasos d'
abismo eu no seu
abismo já fui um
abismo hoje sou
abismo em seu
abismo
.....................................................................................................
23- A Luneta Mágica (fragmento)
Joaquim Manuel de Macedo
Chamo-me Simplício e tenho condições naturais ainda mais tristes do que o meu nome.
Nasci sob a influência de uma estrela maligna, nasci marcado com o selo do infortúnio.
Sou míope; pior do que isso, duplamente míope, física e moralmente.
Miopia física: — a duas polegadas de distância dos olhos não distingo um girassol de uma violeta.
E por isso ando na cidade e não vejo as casas.
Miopia moral: — sou sempre escravo das idéias dos outros; porque nunca pude ajustar duas idéias minhas.
E por isso quando vou às galerias da câmara temporária ou do senado, sou consecutiva e decididamente do parecer de todos os oradores que falam pró e contra a matéria em discussão.
Se ao menos eu não tivesse consciência dessa minha miopia moral!... mas a convicção profunda de infortúnio tão grande é a única luz que brilha sem nuvens no meu espírito
Disse-me um negociante meu amigo que por essa luz da consciência represento eu a antítese de não poucos varões assinalados que não têm dez por cento de capital da inteligência que ostentam, e com que negociam na praça das coisas públicas.
— Mas esses varões não quebram, negociando assim?... Perguntei-lhe.
— Qual! São as coisas públicas que andam ou se mostram quebradas.
— E eles?...
— Continuam sempre a negociar com o crédito dos tolos, e sempre se apresentam como boas firmas.
Na cândida inocência da minha miopia moral não pude entender se havia simplicidade ou malícia nas palavras do meu amigo.
Aos doze anos de idade achei-me no mundo órfão de pai e de mãe.
Eu estava acostumado a ver pelos olhos de minha mãe, a pensar pela inteligência de meu pai; fiquei, pois, nas trevas dos olhos e da razão.
Meus pais eram ricos, e deviam deixar-me, deixaram-me por certo, avultada fortuna; quanto, não sei: meu irmão mais velho que tomou conta dos meus bens, minha tia Domingas que tomou conta da minha pessoa, e minha prima Anica que se criou comigo e que é um talento raro, pois até aprendeu latim, hão de saber disso melhor do que eu.
Dizem eles que a minha fortuna vai a vapor, ignoro se para trás, se para diante, porque os barcos e carros a vapor avançam e recuam à custa do gás impulsor; mas o meu amigo negociante declarou-me que por certas razões que não compreendo, nas quais, também não sei por quê entra a pessoa da prima Anica, devo confiar muito no zelo da tia Domingas.
E eu confio nela o mais possível, porque é uma senhora que anda sempre de rosário e em orações e que tendo alguma coisa de seu, apesar de tão religiosa, nunca deu nem dá um vintém de esmola ao pobre que lhe bate à porta, pretextando sempre que tem muita vontade de fazer esmolas evangélicas; porém que ainda não achou meio de esconder da mão esquerda o óbulo da caridade pago pela mão direita.
Estou tão profundamente convencido da pureza dos sentimentos religiosos da tia Domingas, que desde que ela tomou conta de mim, vivo em sustos de que algum dia a piedosa senhora mande amputar a mão esquerda para conseguir dar esmolas com a mão direita, conforme o preceito evangélico de que em sua santa severidade não quer prescindir.
.....................................................................................................
24- Dieta
Maria Antonieta Cohen
Ou kiwi, ou maracujá
ou goiaba ou limão
ou laranja ou morango,
ou uma mesquinha
fatiazinha...
de mamão!
- Ah!... Cecília Meireles,
tão pragmaticamente
interpretada:
ou ?Isto ou Aquilo?
enquanto todos
queremos
isto e a ... quilo!
.....................................................................................................
25- Indez
Maria Antonieta Cohen
Como dar conta
da minha sozinhez?
Tô pior que ovo
deixado de indez.
Quem sabe um menino,
na sua pequenez,
passa brincando,
e me leva
de vez?
.....................................................................................................
26- Amor
José Américo Miranda
não há lugar pra você no meu coração
não há lugar pra você no meu chão
não há lugar pra você
não há, inda não, lugar pra você
há lugar pra você
só há lugar pra você
só há você
há você
só você
.....................................................................................................
O Acre
não é ocre.
O Acre
é verde.
.....................................................................................................
27-
Tainá Nunes
Abriu a porta. Era aquela a noite esperada por longos oito anos: ia, finalmente, se casar.
A sala muito arrumada, tudo muito bonito. Aliás, ela nunca tinha visto tudo assim tão no lugar.
Ah, quem sabe fosse o dia, o salão, o cabelo bem feito, a maquiagem, o casamento, tudo perfeito, o momento esperado, a aura cor-de-rosa...
O vestido estava num cabide, enroscado na porta que dava para o quarto. Lindo também.
No dia em que comprou o tecido, quando o teve nas mãos, prometeu a si mesma que seria o vestido mais bonito que ela poderia ver em toda a sua vida, e o resultado não desgostava.
Caminhou até a cozinha para tomar um copo d'água, acalmar o lado esquerdo do peito, o tambor que batia.
Voltou. Foi tirar o vestido do cabide para se vestir, olhou no relógio, em quinze minutos viriam buscá-la, tinha o tempo exato para colocar cuidadosamente a roupa, calçar os sapatos, olhar no espelho e sair.
Estendeu a mão, mas não chegou a tocar no vestido.
Uma barata, de muitos centímetros para o padrão normal de barata. No dia do seu casamento, então, parecia muito maior. Não gritou, mas a ausência de reação simbolizou mais que qualquer outro gesto.
Quis sair correndo: as pernas não obedeciam. As lágrimas vieram aos olhos, o corpo foi ficando mole, estendeu o braço rapidamente para a cadeira que estava ao lado, sentiu o suor lhe saindo pelos poros, sentou.
Olhou o inseto: sua aparência era horrível, sentia um misto de repulsa e desprezo por ser uma coisa tão pequena a responsável por tão grande desespero. Ficou ainda um tempo assim, parada.
Foi então que, como num surto, o rosto mudou completamente. O semblante tornou-se sério e de um golpe só se levantou.
Ereta, o olhar fixo no bicho, se aproximou até que conseguisse segurar a barata com o polegar e o indicador.
Com ela entre os dedos, remexendo, [nunca tinha visto uma tão de perto] não pensou duas vezes. Aproximou da boca.
E engoliu, olhando fixamente o branco sujo da parede.
Colocou o vestido, retocou a maquiagem minimamente estragada pelas duas lágrimas roladas, olhou de novo no espelho, calçou os sapatos, ouviu a buzina, desceu as escadas, apagou a luz, trancou a porta e entrou no carro.
.....................................................................................................
28- O LAMENTO DAS COISAS
Augusto dos Anjos
Triste, a escutar, pancada por pancada,
A sucessividade dos segundos,
Ouço, em sons subterrâneos, do Orbe oriundos
O choro da Energia abandonada!
E a dor da Força desaproveitada
- O cantochão dos dínamos profundos,
Que, podendo mover milhões de mundos,
Jazem ainda na estática do Nada!
É o soluço da forma ainda imprecisa...
Da transcendência que se não realiza.
Da luz que não chegou a ser lampejo...
E é em suma, o subconsciente aí formidando
Da Natureza que parou, chorando,
No rudimentarismo do Desejo!
..............................................................................................................
29- Um pedacinho de literatura
Sérgio Sant’Anna
Imediatamente Valfrido é envolvido por música e por uma bailarina, que dança num cenário que reproduz uma casa e seus entornos, tudo estilizado em formas surpreendentes para Valfrido. Já a roupa que a moça usa, sem malha, apenas a calcinha, por baixo, é muito comum, simplicíssima, um vestido apropriado para quem está realizando tarefas domésticas, primeiro num quintal, recebendo raios terminais da tarde de sol, depois dentro de casa, onde Catherine Kantor (seu nome surge às vezes no letreiro), ajeita num vaso flores impossíveis que trouxe lá de fora, tudo isso sem parar de dançar, enquanto as frutas que a moça dispõe sobre a mesa, junto a uma garrafa de vinho e pães, formam uma composição pós-Cézanne, sem dúvida uma citação do mestre, que Valfrido, evidentemente, não pode identificar, embora, num determinado momento, ele associe os passos da moça a jogadas clássicas, e moderníssimas, de Zinedine Zidane, o jovem. Mas Valfrido logo afasta o mestre franco-argelino da cabeça, pois não quer pensar em futebol.
Uma das coisas que mais emocionam Valfrido é que a jovem bailarina é ligeiramente manca, como se Zidane (ele outra vez) jogasse machucado, ou talvez simulasse isso, depois de cavar uma falta. Ou quem sabe a moça feriu-se no quintal, antes que Valfrido sintonizasse o canal 83. Depois Valfrido vai ler no letreiro que a coreografia é de Pina Bausch, nome que passa a lhe dizer alguma coisa, pois ele adora toda a dança, enquanto a música é de Gustave Malevitch.
Essa música parece vir de um grande rádio, daqueles antigões, e mistura ruídos diversos de uma cidade grande à noite, que a bailarina segue, concretamente, mas que a toda hora se transformam numa melodia que, apesar de um tanto triste, ou anunciadora de trevas, quem sabe doces trevas (o torcedor sente isso intuitivamente), permite a Catherine como que flutuar sobre o chão. E há um momento em que ela pára por um segundo, diante de uma escrivaninha, sobre a qual há manuscritos, estudos artísticos e pautas, e pega um porta-retrato e o olha com profunda nostalgia. Valfrido sente um ciúme pior do que a raiva pela derrota do seu time. Mas ao perceber que não há ali nenhuma fotografia, ele, interiormente, instala o seu retrato naquele porta-retrato.
Mas o que faz sua respiração verdadeiramente ficar presa é quando Catherine se aproxima de um armário, abre uma porta espelhada, e tira lá de dentro um traje. Depois, como se adivinhasse o desejo do moço que a vê, a moça retira o vestido pela cabeça, e está ali, com os seios de fora, diante do duplo de seu corpo. Fica assim por bem pouco tempo, mas suficiente para que se instale em Valfrido um amor e desejo para sempre, pela moça e pela personagem que ela encarna.
A roupa que Catherine agora veste faz dela uma espécie de pássaro grande como uma águia, cujo vôo é uma dança enérgica, que, por recursos de computador, vai alçando a bailarina a um monte escarpado. Depois aquela agitação cede lugar à quietude, tudo em consonância coma música, permitindo, porém, dissonâncias rítmicas do corpo, mas em geral como se Catherine agora estivesse planando, até pousar numa grande pedra, criada por computação gráfica, claro, mas muito convincente.
E a ave-moça de rapina olha para um lado, para o outro, depois fixa seu olhar em frente, como se olhasse para Valfrido, especialmente.
E tudo vai caminhando para um final, para a noite, trevas, e também o torcedor, sem que agora sinta qualquer descoordenação em seus gestos, senta sobre um banco alto, que este cenógrafo que sou eu, fez aparecer ali, misteriosamente, naquela sala acanhada, onde uma vela ardia e agora se apagou, feitiço inútil, diante da camisa colorida do time de futebol de Valfrido. E também sobre Rio caiu a noite, tranqüila, sem manifestações de torcedores, pois o time campeão é de São Paulo. E enquanto os últimos movimentos de Catherine são o de abrigar seu corpo sob sua asa de águia, para logo dormir tendo diante de si o mais profundo abismo, Valfrido também consegue, com gestos surpreendentemente graciosos, deitar sua cabeça entre o ombro e o peito, e com os olhos cheios de sono, ouve até a última manifestação da música, depois que os nomes de todos que fizeram aquele espetáculo, contribuíram para ele, apareceram na tela, a noite caindo sobre Catherine, sua montanha, seu abismo, quando Valfrido, com um clique sob o controle, desliga a tevê, que era a única fonte de luz em sua sala. E Valfrido se deixa adormecer assim, como um pássaro, nem que seja por alguns minutos, com a sua dançarina-pássaro e seu abismo, fundindo-se a ela, naquele anoitecer para sempre inesquecível em sua vida.
.....................................................................................................
30- A MORTALHA DE ALZIRA (fragmento)
Aluísio de Azevedo
Amado da minha alma, aponta-me onde é que apascentas o teu gado, onde te encostas pelo meio-dia, para que não entre eu a andar feito uma vagabunda atrás dos rebanhos dos teus companheiros.
O meu amado é para mim como um ramilhete de mirra. Ele morrerá entre meus peitos.
Meu amado, vem comigo pelos campos, dá-me a tua mão; que eu perfume nela os meus cabelos e que eu sorva tremente o cheiro da tua boca, como a cabra montesa que morde os lírios da ladeira.
Tu és belo e forte como o cedro, suave como a ribeira, e tua voz é como o gemido das pombas.
As tuas faces têm toda a maravilha de um prado iluminado por dois sóis, e onde os meus beijos, como um rebanho, descansam à sombra dos teus cabelos.
Vem, amado meu do meu coração, que eu por ti definho de amor e morro de tristeza.
O amado do meu coração é bonito que nem essa cabra arisca, que grimpa à tardinha pelos escaldados outeiros sem relva, e que de noite e de manhã a gente não bispa mais. Ele é como o veadinho branco, que corre mais depressa e se some, se lhe querem pôr a mão em cima. Ele é como aquilo que nós mais queremos, e que não está dentro dos nossos braços e junto dos nossos lábios.
Mas não, alma minha mentirosa, ei-lo que ali está ele, todo amoroso e rubicundo, posto de pé por detrás da parede do meu quarto, olhando o meu leito pelas frestas da janela, chorando de amor e estendendo a vista dos seus olhos por entre as gelosias.
Lavei os meus pés assentada no meu leito. Como os hei de sujar agora?
O sândalo e a murta estão recendendo.
Vem, amado de minha alma, as vinhas já puseram o primeiro cacho de seus frutos, e as moças de Jerusalém estão dormindo à sombra das parras, para sonhar com aqueles que as querem para amar.
Eu só, amado das minhas entranhas; eu só, a mais mesquinha entre filhas de Jerusalém, não durmo o sono da noite, e estou à espera que a minha vinha amadureça e tome cor, para te puxar para meu lado e repartir contigo a minha uva doce.
Virás, que te chamo com as minhas mãos, e te abro meus peitos.
Tu és, amado de minha vida, o escolhido do meu coração. Tua cabeça é como a espiga de ouro que o sol beija de manhã, pensando que beija a mesma cabeça de seu filho, os teus cabelos são como as fibras que as palmeiras choram, quando lhe arrancam as pencas dos seus frutos que elas produziram. São leves, macios, correntes e ondulosos, são como os cabelos do milho doce, e mais doce que o mel gostoso da flor da banana.
Eu te amo, porque tu és formoso. Mira-te, tu, nos meus olhos amorosos, e verás se te mentem minhas palavras.
Não me fujas como a ave que deseja a irmã sozinha no ninho, sem o companheiro para cobrir os ovos.
Teu rebanho não se perderá na montanha, enquanto tu dormires com a cabeça entre meus peitos de amor.
Vem, amado meu. As nossas noites serão como os regatos tranqüilos, em que se abrem os nenúfares, brancos e perfumados como sonhos de amor. Teus lábios serão dos meus lábios, teus cabelos serão dos meus cabelos, teu seio do meu seio, como a raiz é da terra, como a flor é da abelha. Vem, põe a cabeça em cima de mim e dorme o teu sono, que eu também dormirei, mas desfalecida de amor. Dá o teu último pensamento vivo para os meus lábios, para que eu o guarde dentro de mim, e te o restitua depois na tua boca. Fala-me para dentro, e minha alma te ouvirá cativa e amorosa.
Conjuro-te, amado meu, que desças da montanha pelo teu pé e venhas até a mim, que te quero. Traze tu o teu rebanho branco, e iremos, nós juntos, apascentá-lo muito longe pelas campinas, até que morra o sol e a noite chegue sacudindo os cabelos orvalhados de estrelas.
Junta-te comigo, que eu sou o mel de que teus lábios gostam. Bebe a doçura da minha boca, e tu me pedirás o favo inteiro.
A asa procura a flor, porque a flor esconde o mel doce nos seus seios. Vem; vem e fecha nas tuas asas de sol as pétalas do meu desejo.
Desce donde estiveres, vem, que te espero eu, sem poder fechar o meu tormento, enquanto não chegares para me amar.
Mas quem és tu, amado de minha alma, que meus olhos te não distinguem por entre as sombras da minha vida, nem meu braço te alcança, quando de noite te busco nos meus sonhos?. . . Quem és tu, amada visão, que eu busco e que me acompanha?. . . Quem és tu, que te evoco e me não vales, quando todo meu desejo é que me desejes e me tenhas?
Minha porta dorme tão aberta como meu peito. Meu leito não tem muros, e meus braços não se cruzarão para o teu encontro, posto sejas tu o senhor e eu escrava que te espera.
Tu me reconhecerás na sombra, se chegares; basta que ponhas a mão sobre minha carne. E isso será um selo para que tu nunca mais me percas.
Vem, amado do meu coração! Vem! Vem, que toda eu te quero!
E, no entanto, Ângelo era um inocente, ou, pelo menos, nunca tinha visto uma mulher.
...................................................................................................
31- A MOÇA MAIS BONITA DO RIO DE JANEIRO (fragmento)
Arthur Azevedo
Era em 1875. Numa pequena casa do Engenho Novo habitava, em companhia dos pais, a moça mais bonita do Rio de Janeiro.
Como houvesse nascido a 2 de maio, recebera na pia batismal, por simples indicação da folhinha, o nome de Mafalda; entretanto, ninguém a conhecia por esse nome, pois desde o berço começaram todos de casa a chamar-lhe Fadinha, corruptela e diminutivo de Mafalda. E bem lhe assentavam aquelas três sílabas, porque a moça, aos dezoito anos, possuía todos os encantos que têm, ou devem ter, as fadas, e na sua beleza extraordinária havia, realmente, qualquer coisa de sobrenatural e fantástico.
Morena, desse moreno fluido que só Murillo encontrou na sua maravilhosa paleta, de olhos negros e úmidos, narinas dilatadas, lábios grossos mas graciosamente contornados, abrindo-se, de vez em quando, para mostrar os mais belos dentes, cabelos negros como os olhos, abundantes, ligeiramente ondeados, apanhados sempre com um desalinho estético, deixando ver duas orelhas de um desenho tão impecável, que fora crime cobri-las - e todas essas partes completando-se umas às outras no oval harmonioso do rosto, Fadinha, por unânime deliberação do júri mais rigoroso, ganharia com toda a certeza o primeiro prêmio, se naquela época se lembrassem de abrir no Rio de Janeiro um concurso de beleza feminina.
Todo o seu corpo se compadecia com a cabeça; era esbelta sem ser alta, robusta sem ser gorda, e as suas formas apresentavam uma extraordinária correção de linhas. As mãos e os pés eram modelos.
Exagerado parecerei, talvez, dizendo que Fadinha reunia a esses dotes físicos as melhores qualidades de alma; entretanto, a verdade é que era boa, afetuosa, submissa e compassiva. Tinha a sua ponta de vaidade, isso tinha, mas que outra mulher não a teria, sendo assim tão bonita?
Duas coisas, portanto, a desgostavam: ter vindo ao mundo a 2 de maio e chamar-se Mafalda, quando poderia nascer a 10 de julho e se chamar Amélia - e não ter nascido rica, muito rica, para fazer valer ainda mais a sua formosura.
Todavia conformava-se alegremente com a precária condição de filha de um funcionário público paupérrimo.
Sim, porque seu pai, o Raposo, chegara aos cinqüenta anos simples oficial de Secretaria, sendo obrigado, para agüentar a vida, a empregar os afazeres escriturando livros comerciais, ora numa padaria, ora numa venda,
ora numa casa de penhores. E a vida sedentária fez com que ele engordasse extraordinariamente.
O Dr. Souto, médico da família, costumava dizer: o Raposo é uma apoplexia ambulante.
Fadinha não era filha única: tinha um irmão mais velho arrumado no comércio, e outro, ainda muito novo, que estudava para doutor, porque o pai o considerava o "talento da família".
A mãe era uma senhora de quarenta e cinco anos, que não se parecia absolutamente com a filha.
Não sei por que fenômeno fisiológico, de um casal tão feio (porque o Raposo, coitado! Era outro desfavorecido da natureza) saiu aquele esplêndido produto, aquela criatura escultural, aquela beleza inverossímil! Note-se que os dois rapazes também eram feios, principalmente o futuro doutor - narigudo, orelhudo, enfezado, anêmico, insignificante.
Não contente de levar parte da existência às voltas com os santos do seu oratório particular, D. Firmina - assim se chamava a mãe de Fadinha - andava constantemente pelas igrejas, adorando os de fora; mas, em que pesasse a tanta piedade não perdoava à filha o ser tão bonita, e revoltava-se intimamente contra o singular monopólio que a moça recebera da natureza como se fosse uma dádiva escandalosa; entretanto, Fadinha era toda a sua ambição de fortuna, toda a sua esperança de melhores tempos.
O seu sonho era ser sogra de um argentário, pois que o não poderia ser de um príncipe. Se o Raposo não fosse um chefe de família, às direitas, essa mulher tê-lo-ia dominado, usurpando toda a autoridade no lar; felizmente ele batia o pé, não consentia em nada que lhe desagradasse.
.....................................................................................................
32- A RETIRADA DE LAGUNA
Visconde de Taunay
Para dar uma idéia, algum tanto exata, dos lugares onde, em 1867, ocorreram os acontecimentos cuja narrativa se vai ler, convém lembrar que, ao finalizar de 1864, havendo o Paraguai atacado e invadido, simultaneamente, o Império do Brasil e a República Argentina, achava-se, decorridos dois anos, após tal investida, reduzido a defender o próprio território, invadido do lado do sul, pelas forças conjuntas das duas potências aliadas, a quem coadjuvava pequeno contingente de tropas da República do Uruguai. Ao sul oferecia o caudaloso Paraguai mais vantagens à expugnação da fortaleza de Humaitá, que, pela posição especial, se convertera na chave estratégica do país, assumindo, nesta porfia encarniçada, a importância de Sebastopol, na Campanha da Criméia.
Ao norte, do lado de Mato Grosso, eram as operações infinitamente mais difíceis, não só porque ocorriam a milhares de quilômetros do litoral atlântico, onde se concentram todos os recursos do Brasil, como ainda por causa das inundações do rio Paraguai, que cortando na parte superior do curso terras baixas e planas, transborda anualmente, a submergir então regiões extensíssimas. Consistia o plano de ataque mais natural em subir as águas do Paraguai, do lado da Argentina, até o coração da república inimiga e, do Brasil, descê-las a partir de Cuiabá, a capital mato-grossense que os paraguaios não haviam ocupado.
Teria impedido à guerra arrastar-se durante cinco anos consecutivos esta conjugação de esforços simultâneos.
Mas era-lhe a realização extraordinariamente difícil, devido às enormes distâncias a transpor. Basta lançar os olhos sobre um mapa da América do Sul e examinar o interior do Brasil, em grande parte desabitado, para que qualquer observador de tal se convença logo.
No momento em que se iniciava esta narrativa, estava, pois, a atenção geral das potências aliadas quase exclusivamente voltadas para o Sul, para as operações de guerra, travadas em torno de Curupaiti e Humaitá. Quanto ao plano primitivo fora ele mais ou menos abandonado; quando muito ia servir de pretexto a que se infligissem as mais terríveis provações a uma pequena coluna expedicionária, quase perdida nos imensos e desertos sertões brasileiros.
Em 1865 — ao arrebentar a guerra que Francisco Solano Lopes, o presidente do Paraguai, na América do Sul, suscitara sem maior motivo do que os ditames da ambição pessoal; quando muito a invocar o vão pretexto da manutenção do equilíbrio internacional — o Brasil, obrigado a defender honra e direitos, dispôs-se, denodadamente, para a luta.
A fim de reagir contra o inimigo, em todos os pontos onde podia enfrentá-lo, o plano da invasão do Paraguai setentrional acudiu naturalmente a todos os espíritos; preparou-se uma expedição para este fim.
.....................................................................................................
33-
Giani Figueiredo
Eu fico olhando as pessoas. Como se comportam.
Elas parecem bem. Assim de fora, não percebo que
possa haver alguma dor. Vejo harmonias.
Gosto de olhar as pessoas. Parecem tranqüilas.
Parecem não terem grandes coisas para darem conta,
ou melhor, estarem dando conta de tudo.
.....................................................................................................
34-
Giani Figueiredo
Estou na estrada, a caminho!
E me dá mesmo vontade de descer do ônibus e
seguir andando, sem nenhuma pressa e sem nenhum destino...
Só vivendo o caminho.
.....................................................................................................
35-
Giani Figueiredo
Queria seguir pela linha do trem.
Não deste lado,
que a trilha logo acaba.
Mas do lado de lá,
que andando, acabo no mar...
.....................................................................................................
36- FORMALIDADES
Julia Lopes de Almeida
As formalidades mundanas transformam-se com a moda, pouco mais ou menos como os vestidos.
Uma pessoa rigorista não pode estar tranqüila.
A maneira de calçar a luva, tirar o chapéu, dobrar uma carta, fazer um convite, receber uma visita, comer a uma mesa, ir a um enterro ou a uma festa, andar, sorrir etc., varia como as estações!
Nestes cuidados, aparentemente fúteis, existe um trabalho complicadíssimo, porque enfim, mudar de hábitos de ano em ano sempre é mais difícil do que mudar de gravata todos os dias.
Que dolorosas raivinhas sentirá uma criatura, mesmo bondosa e plácida, mas com apuros de exterioridade, ao verificar que pôs um selo num sobrescrito no lugar designado pela moda antiga ou que dobrou a ponta do bilhete de visita à moda antiga, ou que distraidamente apertou a mão de alguém na rua à moda antiga!
É para enlouquecer... Não digo que se não acatem com afã certas modificações; apraz-me comer os espargos à moderna, com garfo e faca, o que desobriga de sujar os dedos e fazer uma ginástica de cabeça por vezes embaraçosa; mas aceitar todas as reformas de etiquetas e costumes parece-me excesso de fantasia, que pode acarretar prejuízos...
Estas minúcias delicadas são as meias tintas, que fazem realçar a educação do indivíduo; para que elas sejam naturais devem ser cultivadas desde a infância, nesse uso que as faz parecer uma segunda natureza.
O doce preceito antigo, de que o que se aprende no berço dura até à morte, fica abalado com esse contínuo fazer e desmanchar de regras com que as civilizações se entretêm. O que era lindo e correto há alguns anos passou a ser caricato à vista da moda tirânica dos dias que vão passando.
Têm razão os velhos em sorrir, com benigno escárnio, das alucinações desta mocidade trêfega.
No seu tempo os costumes eram de uma cortesia mais repinicada, mas muito mais igual.
A arte de bem viver na sociedade aprendia-se de uma vez só e ficava para o uso da vida inteira.
Aqueles hábitos amaneirados impregnavam-se nas pessoas como um perfume na pele e passavam por isso a ser - essência própria.
Hoje os hábitos são movediços como as turbas. Tão depressa é de praxe que seja o homem o primeiro a cumprimentar uma senhora, como o é uma senhora cumprimentar primeiramente um homem; ora estabelecem que devem ser as damas idosas que ofereçam
a face para o beijo das novas, ora que sejam as novas que entreguem a face para o beijo das velhas etc.
Para quem não estiver bem firme na maneira por que se deve conduzir, estes renovamentos só podem criar indecisões e aflição.
Este embaraço não é só nosso.
Na velha sociedade da França, civilizada e primorosa, ainda é preciso que de vez em quando surja um livro ensinando regras, o que e indispensável, visto as transformações, ou se espalhem artigos em revistas e jornais, cheios de preceitos de civilidade.
É sempre com uma solenidade dogmática que esses autores ensinam a comer ameixas em calda, disfarçando a queda dos caroços no prato: a chupar uvas sem engolir as grainhas; a pedir a mão de uma moça; a por o pé no estribo, a descer do carro, a pegar na aba do chapéu para um cumprimento e até a apertar a mão dos amigos!
Este ato tão simples de polidez e de simpatia é motivo grave de preocupações. O gesto expressivo de se estender a mão aos outros, com naturalidade, pode, na opinião dos formalistas, ser tão ridículo como uma cartola velha num sujeito elegante, ou uns óculos de tartaruga num rostinho de quinze anos... Assim, ora decretam que se levante o cotovelo até à altura da orelha, que o pulso penda com moleza e que seja nessa atitude de animal de feira, que as mãos amigas se encontrem, num simples roçar de dedos, ora que seja o aperto de mão à altura do queixo, acoimando de brutal o shake-hands, com que as mãos fortes esmagam as mãozinhas moles e débeis.
Usos, costumes e convenções surgem todos os dias no código mundano, como cogumelos na terra úmida.
É prudente não aceitar todos sem exame. Há cogumelos que matam, há convenções risíveis.
O ridículo destas equivale ao veneno daqueles...
.....................................................................................................
37- VEREDAS (fragmento)
Edgard Pereira
Sua função era avisar a passagem do trem de ferro. Nunca foi visto chegar em sua pequena torre.
As pessoas tomavam conhecimento dele apenas quando acionava a barreira.
Concentrava-se naquilo – então os carros paravam, muitas vidas dependiam daquele gesto, porque ele avisava a passagem do trem de ferro.
Numa noite alguém apareceu do lado da luz – veio roendo unhas, caminhou entre automóveis e as peças esquecidas de construção. Conversaram sobre o tempo, fumaram juntos, ele ofereceu ao desconhecido o café da garrafa térmica que trouxera de casa. As horas passaram, eles batiam as mãos nas costas um do outro, ele ofereceu ao conhecido um copo de água. (Descobriram depois que havia na guarita uma garrafa de vinho.)
Eles apertaram as mãos pela última vez quando a locomotiva apitou e, naturalmente, os carros frearam, até que ela sumisse dentro da escuridão. Desde então, ele nunca mais voltou ao seu posto, tinha economias e, afinal, não precisavam mais dele.
.....................................................................................................
38- CAROLINA (fragmento)
Casimiro de Abreu
Na estrada que conduz de Lisboa a *** erguia-se há poucos anos uma casa de bonita aparência, com sua vinha verdejante, seu pomar odorífero, seu jardim pequeno, mas bonito, suas alamedas, curtas, mas frondosas. O muro da quinta era alto bastante e, contudo, os ramos das faias e dos choupos gigantes debruçavam-se sobre ele, assombrando com sua folhagem majestosa a estrada, que o mesmo muro flanqueava para um pequeno espaço.
Ao ver-se essa pequena casa cercada de perfumes, de verdura, de sombra e de poesia, podia-se sem receio dizer: seus habitantes são felizes. E eram. Viviam entregues aos prazeres mais doces da vida doméstica.
Acordavam quando a natureza despertava, no meio do trinar das aves, do sorrir da manhã e do sorrir das flores; adormeciam sossegados ao som do vento da noite que zunia, dobrando a coma dos arvoredos.
Era uma bela tarde de maio de 1848. Os raios moribundos do sol no anoitecer pareciam dormir nos bastos olivais que coroavam a crista dos outeiros; uma viração suave e branda refrescava a atmosfera, sussurrando por entre as folhas e alterando o espelho tranqüilo do lago onde o cisne vogava majestoso; o céu trajava o azul mais puro apenas manchado aqui e além por ligeiras nuvens brancas, semelhantes a vapores, como se fossem os rolos de incenso que os turíbulos da terra enviavam aos pés do Senhor, impelidos pelas auras bonançosas. Era na verdade uma tarde de primavera, da primavera, mocidade do ano, dessa quadra amena e deleitosa, que por toda a parte entoa o canto grandioso da criação!...
No fim duma das alamedas da quinta, debaixo dum lindo caramanchão, acabavam de assentar-se um rapaz de 20 a 22 anos e uma menina de 17 ou 18. Tinham os braços entrelaçados e olhavam-se com esses olhares ternos dos amantes.
Que lindo par! Ele, belo com essa beleza que distingue o homem; ela, bela com essa beleza que Deus dá só às mulheres!
Ai! Um sorriso que se desprendesse dos lábios formosos daquela virgem mataria de amores um homem!
Um olhar meigo e terno que brilhasse por entre aquelas pestanas aveludadas venceria o mundo!
— Ora diz-me a verdade, Augusto, sempre partes amanhã? Disse a jovem a seu companheiro, com uma voz suave como teriam os anjos, se eles falassem.
— Não me acreditas, Carolina? Para que te havia de eu enganar?
Carolina fitou seus olhos negros nos de Augusto, e disse-lhe corando:
— Para quê?!
— Olha, és injusta; um dia to hei-de provar.
— Mas tu não te demoras muito, não é assim?
— Não sei; mas mesmo que me demore muito, um dia hei-de voltar.
— Ah! Tu já não me amas! Disse ela, e duas lágrimas despregaram-se de suas pálpebras e vieram cair-lhe no seio.
— Carolina! Carolina! Cada vez te amo mais, meu anjo.
E Augusto encostou a cabeça da virgem ao seu peito e beijou-lhe a fronte.
E os pássaros cantavam seus gorjeios, e a fonte murmurava seus queixumes, e a brisa dizia seus segredos!...
— Escuta, querida, podes vir todas as tardes sentar-te sobre este mesmo banco, podes até trazer o meu retrato que eu te dei; e quando os pássaros cantarem, quando o sol s’esconder, quando a brisa brincar com as flores, tu ouvirás os meus protestos d’amor.
Sentado à popa do navio que me levar, pisando solo estranho longe de ti, eu direi à viração do mar, eu direi às brisas da tarde: levai-me este suspiro a Carolina.
— Sim, sim, murmurava ela, manda-me um suspiro.
— E quando um dia, continuou Augusto, a estas mesmas horas, tu ouvires uma voz cantar estes versos:
Ó querida, estou de volta,
Venho-te um abraço dar;
Enxuga teus lindos olhos,
Sê minha, que eu sei-te amar.
Então, meu anjo, sou eu, é o teu Augusto; então, eu o juro, tu serás minha à face do mundo e à face de Deus.
.....................................................................................................
39- SONETO
Francisco Otaviano
Morrer, dormir, não mais, termina a vida,
E com ela terminam nossas dores;
Um punhado de terra, algumas flores...
E depois uma lágrima fingida.
Sim, minha morte não será sentida:
Não tive amigos e nem deixo amores;
E se os tive, tornaram-se traidores,
Algozes vis de um'alma consumida.
Tudo é podre no mundo! Que me importa
Que amanhã se esboroe ou que desabe,
Se a natureza para mim 'stá morta?!
É tempo já que meu exílio acabe...
Vem, vem, ó morte! ao nada me transporta:
Morrer, dormir, talvez sonhar, quem sabe!
.....................................................................................................
40- ZAORIS
Lenda do Sul do Brasil
Nosso Senhor Jesus Cristo louvado seja para sempre! Amém!
Ele foi preso na quarta-feira, sentenciado na quinta e crucificado na sexta.
E neste mesmo dia de sexta-feira houve no Céu o julgamento dos carrascos de Nosso Senhor, e logo desceu à Terra o arcanjo São Miguel com a ordem de castigar os judeus; e o arcanjo passou essa ordem aos anjos que estavam de guarda à Cruz, onde Nosso Senhor estava pregado e morto.
Enquanto São Miguel esteve na Terra, deixou sobre ela muito brilho da sua couraça de ouro e das suas armas, e muita ventania das suas asas de prata.
A gente já nascida estava condenada, pelo pecado de ter maltratado e morto Jesus Cristo.
Mas as crianças ainda não nascidas não podiam sofrer castigo, porque não tinham culpa alguma.
Porém os anjos da guarda da Cruz não sabiam disso e iam castigá-las da mesma forma, porque o arcanjo São Miguel se esquecera de avisar sobre as crianças que nascessem naquele dia, que era justamente o da sentença de Deus.
Por isso a Virgem Maria, que sabia do esquecimento de São Miguel, em memória do seu filho Jesus, não deixou os anjos da guarda da Cruz castigarem as crianças nascidas nessa Sexta-feira.
E então, para diferençá-las das outras, fez um milagre: mandou que a ventania das asas de prata do arcanjo ventasse sobre os olhos dos que fossem nascendo nesse dia santo, e mandou que o brilho das armas de ouro também brilhasse sobre eles.
E desse jeito todos ficaram assinalados e puderam ser diferençados dos nascidos na véspera.
E bem diferençados, porque podiam ver através da água, até o seu fundo, e através as muralhas e montanhas, até o outro lado delas — tudo ficou transparente para eles.
E como a Virgem Maria não disse que subisse outra vez ao céu a ventania das asas de prata do arcanjo nem o brilho das suas armas de ouro, esses dons ficaram na terra. E, em todas as sextas–feiras santas, essas graças procuram os olhos das crianças recém-nascidas, que então ficam com o dom de ver no escuro e através de qualquer tapamento de pedra, madeira ou ferro...
Para essas crianças, nada existe (escondido ou enterrado) que seus olhos não vejam, como vêem os olhos dos outros homens em dia claro. Esses, que nasceram em sexta-feira santa, são chamados, no Sul do Brasil, de zaoris.
.....................................................................................................
41- A indômita marionete
Evaldo Balbino
Agora eu estou sem hora,
despido do que enfim
em mim só era passante.
Agora sou esta mesa,
sou este banco, esta sala,
que têm a vida constante.
Sou na parede o retrato,
com moldura de aço,
guardado de traça e tempo.
Agora eu estou sem fim,
e brinco no fim da tarde
com a morte que não virá.
Mas morre a tarde em seu fim,
e aos passos eu me desfaço...
Aos poucos já não sou eu,
aos poucos estou sem mim.
.....................................................................................................
42- Maletta Revisited # 86
Marcelo Dolabela
eu estou: nas maravilhas do mundo
no Coliseu da cidade
no naufrágio dos poetas
ouvindo scherherazade
é o zum-zum da matilha do mundo
da Muralha da China, o barulho,
a baunilha dos vagabundos
única geração que ouve
a triste balada dos mouros
o transplante das décadas
a arcádia sem fé e sem ouro.
.....................................................................................................
43- BALANÇO DA DÉCADA
Marcelo Dolabela
uma década tem mais de cem séculos
dez bilhões de vozes num único eco
mil e uma noites num mero segundo
poucos trilhões de silêncio num ponto
quanto se conta os átomos é ótimo
a hora fica interminável num átimo
não se chega nunca a nenhum lugar
e apenas se volta ao mesmo volume
um só dia tem bem mais de dez décadas
num rústico eco a maior biblioteca
da luz do segundo nenhum consenso
até quanto nos faltará silêncio
.....................................................................................................
44- NÃO
Lúcia Castello Branco
“Vem aqui”— eu disse a ele – “é apenas isto e nada mais”. Mas não.
Antes era preciso que eu lhe mostrasse o poço. Sim, o poço de palavras mortas.
Mãe foi uma delas – a primeira. E, em torno dessa palavra, estivemos juntos – eu e ele – a tecê-la como se a destruíssemos, a comê-la como se a vomitássemos.
“Os mornos, eu os vomitarei pela boca”— ele não me disse.
Mas bastou que ele não o dissesse para que eu compreendesse, sim, para que eu compreendesse que aquele não seria nunca um morno amor.
“Vem”— ele não lhe disse. Deixemo-nos sentar aqui, em torno do livro, sob o céu dessa língua morta que jamais pronunciaremos juntos.
“Vem, vou apertar-te com o coração dessa escrita sem palavras e então me dirás se o pensamento é branco como é branca a dor”.
Mas não. Antes haveria a travessia do silêncio, a travessia do estreito corredor da melancolia. Haveria brancas noites de insônia enquanto ele dormia ao lado, do outro lado.
Ele, um navio sobre densas vagas; ela, um tapume magro sobre um chão de sementes secas.
“Vem”—eu lhe disse de novo. E lhe mostrei o rio da minha aldeia como se lhe mostrasse o mundo.
E lhe mostrei as letras do meu nome, um nome estrangeiro que eu nunca saberia escrever.
“Passe adiante”— ele lhe disse. “Isso pode ser arquivado no museu das letras mortas. Não lerei o teu caderno, porque não é com carvão e brasas que se desenham as delícias desse outro paraíso”.
“Vem”— ela lhe disse de novo. “Vem estar comigo no coração desta escrita. Há ali um jardim de árvores toscas que exalam ainda algum perfume, há aqui um animal ferido que pede por nosso abrigo, há entre nós um pássaro absurdo que põe ovos de ferro”.
“Não voaremos juntos” – ele disse. E, sem mais dizer, deu-lhe aquela flor. A flor do seu desespero.
Branca flor. Branca flor do seu desespero.
“Sim”— tive vontade de lhe dizer. Mas eu não era Molly, nem Medéia.
Não diria sim uma vez mais, como no começo dos mundos. Não diria sim outra vez. Nem mesmo à recusa. Por isso não lhe disse. E lancei seu nome ao poço das palavras mortas, onde fermentam, em lenta solução, os nomes proscritos do amor.
.....................................................................................................
45- Cotidiano
Evaldo Balbino
O amor a tudo aceita:
aquela estranha mania
que antes não se via;
o cabelo mal penteado,
que a este não é dado
manter-se inviolado
à noite.
São tudo frutos na colheita:
o amor é compassivo perante as botas espalhadas
ou a roupa fora do lugar,
perante a face suja
que não houve tempo de lavar...
E o amor continua aceito
nesses dois corpos no leito,
sobre o colchão de palha
cúmplice,
sob a lua de prata
tácita.
.....................................................................................................
46-
Dieter Roos
liberdade!
liberdade!
com a bagagem amarga
da lembrança!
liberdade?
é aquilo
que você perde
quando quer tê-la!
.....................................................................................................
47- As rédeas do tempo
Evaldo Balbino
As rédeas do tempo estão nas mãos de Deus,
este verbo sempre ecoado,
este fogo caído no deserto,
eivado de amor e fúria
durante quarenta anos.
– Não, não se reduz a este tempo
um amor tão retorcido.
E são nestas horas imensuráveis
que ele nos leva, leves no vento,
paisagem retorcida construída
que se desfaz.
As mãos de Deus nos deformam,
pois precisamos alcançar
sua eterna vida inatingível.
É leve ou pesada a mão que se estende dos céus?
A pele já nos pesa sobre a face
feita à imagem e semelhança de Deus.
..............................................................................................................
48- MITO INDÍGENA DO SOL
(Índios Tucuna, Vale do Rio Solimões, Amazonas)
Antigamente, muito antigamente, no tempo em que vivia entre os Tucuna, o Sol era um moço forte e muito bonito.
Por ocasião da festa de Moça-Nova, o rapaz ajudava sua velha tia no preparo da tinta de urucu.
Ia à mata e trazia uma madeira muito vermelha, chamada muirapiranga.
Cortava a lenha para o fogo onde a velha fervia o urucu para pintar os Tucuna.
A tia do moço era muito mal humorada, estava sempre a reclamar e a pedir mais lenha.
Um dia o Sol trouxe muita muirapiranga e a velha tia ainda resmungava insatisfeita.
O rapaz resolveu então que acabaria com toda aquela trabalheira.
Olhou para o fogo que ardia, soltando longe suas faíscas.
Olhou para o urucu borbulhante, vermelho, quente.
Desejou beber aquele líquido e pediu permissão à tia que consentiu:
- Bebe, bebe tudo e logo, disse zangada.
Ela julgava e desejava que o moço morresse.
Mas, à medida que ia bebendo a tintura quente, o rapaz ia ficando cada vez mais vermelho, tal qual o urucu e a muirapiranga.
Depois, subindo para o céu, intrometeu-se entre as nuvens. E passou desde então a esquentar e a iluminar o mundo.
.....................................................................................................
49- JUSTIÇA DO TRABALHO
Silviano Santiago
Os empregadores oferecem
160 mil-réis
e os empregados exigem
240 mil-réis.
Num gesto de Salomão
racham ao meio
a diferença:
eis o salário mínimo.
.....................................................................................................
50- NEOLOGISMOS
Silviano Santiago
Bam: tiro de revólver.
Rat-tatat: disparo de metralhadora.
Buuum: explosão.
Pow ou Kpow: soco na cara.
Crash ou Crack: vidraça sendo partida.
Blam: batida de automóvel.
Argh: grito de vitória.
.....................................................................................................
51- A LENDA DA VITÓRIA RÉGIA
(Lenda da região Norte do Brasil, Amazonas)
Conta a lenda que uma bela índia chamada Naiá apaixonou-se por Jaci (a Lua), que brilhava no céu a iluminar as noites.
Nos contos dos pajés e caciques, Jaci de quando em quando descia à Terra para buscar alguma virgem e transformá-la em estrela do céu para lhe fazer companhia. Naiá, ouvindo aquilo, quis também virar estrela para brilhar ao lado de Jaci.
Durante o dia, bravos guerreiros tentavam cortejar Naiá, mas era tudo em vão, pois ela recusava todos os convites de casamento.
E mal podia esperar a noite chegar, quando saía para admirar Jaci, que parecia ignorar a pobre Naiá. Mas ela esperava sua subida e sua descida no horizonte e, já quase de manhãzinha, saía correndo em sentido oposto ao Sol para tentar alcançar a Lua.
Corria e corria até cair de cansaço no meio da mata. Noite após noite, a tentativa de Naiá se repetia. Até que ela adoeceu.
De tanto ser ignorada por Jaci, a moça começou a definhar.
Mesmo doente, não havia uma noite que não fugisse para ir em busca da Lua. Numa dessas vezes, a índia caiu cansada à beira de um igarapé.
Quando acordou, teve um susto e quase não acreditou: o reflexo da Lua nas águas claras do igarapé a fizeram exultar de felicidade!
Finalmente ela estava ali, bem próxima de suas mãos. Naiá não teve dúvidas: mergulhou nas águas profundas e acabou se afogando.
Jaci, vendo o sacrifício da índia, resolveu transformá-la numa estrela incomum.
O destino de Naiá não estava no céu, mas nas águas, a refletir o clarão do luar.
Naiá virou a Vitória Régia, a grande flor amazônica das águas calmas, a estrela das águas, tão linda quanto as estrelas do céu e com um perfume inconfundível. E que só abre suas pétalas ao luar.
.....................................................................................................
52- LENDA DO GUARANÁ
(Lenda da região Norte do Brasil, Amazonas)
O guaraná é um fruto da Amazônia usado para fazer uma soda ou refrigerante de sabor doce e agradável.
É uma bebida bastante popular na Amazônia. A origem desse fruto é explicada pela seguinte lenda: um casal de índios pertencente à tribo Maués vivia por muitos anos sem ter filhos e desejava muito ter pelo menos uma criança.
Um dia, eles pediram a Tupã uma criança para completar sua felicidade.
Tupã, o rei dos deuses, sabendo que o casal era cheio de bondade, lhes atendeu o desejo trazendo a eles um lindo menino.
O tempo passou rapidamente e o menino cresceu bonito, generoso e bom.
No entanto, Jurupari, o deus da escuridão, sentia uma extrema inveja do menino, da paz e da felicidade que ele transmitia, e decidiu então ceifar aquela vida em flor.
Um dia o menino foi coletar frutos na floresta e Jurupari se aproveitou da ocasião para lançar sua vingança.
Ele se transformou em uma serpente venenosa e mordeu o menino, matando-o instantaneamente.
A triste notícia espalhou-se rapidamente. Nesse momento, trovões ecoaram na floresta e fortes relâmpagos caíram pela aldeia.
A mãe, que chorava em desespero, entendeu que os trovões eram uma mensagem de Tupã, dizendo que ela deveria plantar os olhos da criança e que deles uma nova planta cresceria dando saborosos frutos.
Os índios obedeceram ao pedido da mãe e plantaram os olhos do menino. Nesse lugar, cresceu o guaraná, cujas sementes são negras e têm um arilo em seu redor, imitando os olhos humanos.
.....................................................................................................
53- A ORGIA DOS DUENDES
Bernardo Guimarães
Meia-noite soou na floresta
No relógio de sino de pau;
E a velhinha, rainha da festa,
Se assentou sobre o grande jirau.
Lobisome apanhava os gravetos
E a fogueira no chão acendia,
Revirando os compridos espetos,
Para a ceia da grande folia.
Junto dele um vermelho diabo
Que saíra do antro das focas,
Pendurado num pau pelo rabo,
No borralho torrava pipocas.
Taturana, uma bruxa amarela,
Resmungando com ar carrancudo,
Se ocupava em frigir na panela
Um menino com tripas e tudo.
Getirana com todo o sossego
A caldeira da sopa adubava
Com o sangue de um velho morcego,
Que ali mesmo co’as unhas sangrava.
Mamangava frigia nas banhas
Que tirou do cachaço de um frade
Adubado com pernas de aranha,
Fresco lombo de um frei dom abade.
Vento sul sobiou na cumbuca,
Galo-Preto na cinza espojou;
Por três vezes zumbiu a mutuca,
No cupim o macuco piou.
E a rainha co’as mãos ressequidas
O sinal por três vezes foi dando,
A corte das almas perdidas
Desta sorte ao batuque chamando:
"Vinde, ó filhas do oco do pau,
Lagartixas do rabo vermelho,
Vinde, vinde tocar marimbau,
Que hoje é festa de grande aparelho.
Raparigas do monte das cobras,
Que fazeis lá no fundo da brenha?
Do sepulcro trazei-me as abobras,
E do inferno os meus feixes de lenha.
Ide já procurar-me a bandurra
Que me deu minha tia Marselha,
E que aos ventos da noite sussurra,
Pendurada no arco-da-velha.
Onde estás, que inda aqui não te vejo,
Esqueleto gamenho e gentil?
Eu quisera acordar-te c’um beijo
Lá no teu tenebroso covil.
Galo-preto da torre da morte,
Que te aninhas em leito de brasas,
Vem agora esquecer tua sorte,
Vem-me em torno arrastar tuas asas.
Sapo-inchado, que moras na cova
Onde a mão do defunto enterrei,
Tu não sabes que hoje é lua nova,
Que é o dia das danças da lei?
Tu também, ó gentil Crocodilo,
Não deplores o suco das uvas;
Vem beber excelente restilo
Que eu do pranto extraí das viúvas.
Lobisomem, que fazes, meu bem
Que não vens ao sagrado batuque?
Como tratas com tanto desdém,
Quem a c’roa te deu de grão-duque?”
.....................................................................................................
54- A POMBA E A ESTRUMEIRA (texto adaptado)
Raul Pompéia
“Eu quero um noivo rico... Que não seja formoso!... Formosa já sou eu... Quero um noivo de ouro, de ouro como o bezerro.
Adoro tudo que é de ouro: as jóias, as moedas e o bezerro do mosaico.
Quando durmo, sobre o meu corpo os sonhos entornam douradas cascatas... As auroras são belas para mim, porque têm diademas de ouro.
Ama-se geralmente a montanha pela verdura vasta e frondosa, que a reveste; eu amo a montanha, porque sinto lá dentro da crosta granítica, o espesso filão dourado.
Há quem adore o ciciar do córrego, encachoeirando-se pelas pedrinhas afora; eu acho apenas adorável o ribeiro, quando rola palhetas de ouro nas areias do leito...
Com o ouro faz-se o domínio e funde-se o trono. Os imperadores romanos faziam esculpir em ouro as próprias figuras...
Os raios do sol são de ouro.
Enfim, eu serei conquistada pelo ouro... A formosura tem a glória de valer o grande metal e de poder trocar-se por ele.
A mulher que se deixa conquistar pelo ouro passa a ser conquistadora; a fraqueza da formosura transfunde-se na onipotência do metal...
De que serviria a nós outras, mulheres, a beleza, se a beleza não fosse ouro no mercado da vida e se o ouro não exigisse o formoso róseo da nossa carne para mais fino realce?!...
Os homens dominam pela matéria, que é o ouro, nós dominamos pelo ideal, que é a sedução.
A aliança dos dois domínios faz o domínio supremo... Esta é a verdade.
Por isso, eu quero um noivo rico. Um noivo de ouro; de ouro maciço como o bezerro do velho testamento...
Pertenço a quem mais der!... O calão vulgar da canalha chama a isso de “vender-se”... Eu me vendo!”
******************************************************
Eu estava horrorizado. E ela dizia a brilhante catadupa de blasfêmias com aqueles mimosos lábios, que eu supusera feitos para o murmúrio doce das santas confidências da virtude e do amor...
Como era horrível a lagarta amarela do ouro, a sair por entre as rosas daquela boca!
Diante de nós, lá embaixo, no jardim, haviam acumulado a um canto uma grande porção de estrume.
Sobre o estrume, uma pomba branca, de lindos pés sangüíneos e sangüíneo bico, revolvia com as unhas o monte infecto, procurando alimento...
Fez-me estremecer o epigrama da casualidade.
.....................................................................................................
55- ARTE CULINÁRIA
Júlia Lopes de Almeida
Para saber comer, é preciso não ter fome. Quem tem fome não saboreia, engole.
Ora, desde que o enfarruscador ofício de temperar panelas se enfeitou com o nome de arte culinária, temos uma certa obrigação de cortesia para com ele. E concordemos que é uma arte pródiga e fértil.
Cada dia surge um pratinho novo com mil composições extravagantes, que espantam as menagères pobres e deleitam os cozinheiros da raça!
Dão-se nomes literários, designações delicadas, procuradas com esforço, para condizer com a raridade do manjar.
Os temperos banais, das velhas cozinhas burguesas, vão-se perdendo na sombra dos tempos.
Falar em alhos, salsa, vinagre, cebola verde, hortelã ou coentro arrepia a cabeluda epiderme dos mestres dos fogões atuais.
Agora em todas as despensas devem brilhar rótulos estrangeiros de conservas assassinas, e alcaparras, trutas, manteiga dinamarquesa (o toucinho passou a ser ignominioso), vinho Madeira para adubo do filet, enfim tudo o que houver de mais apurado, cheiroso e... caro!
As exigências crescem, ameaçam-nos e, sem paradoxo, somos comidos pelo que comemos.
Isto vem a propósito de uma exposição de arte culinária que se fez, há pouco tempo, em Paris.
Imaginem como aquilo deve ser encantador e apetitoso!
Quem já viu as vitrines das charcuteries, das crémeries, das confeitarias, etc., e que sabe com quanto mimo e elegância são expostos os queijos, os paios e os pastéis, entre bouquets de lilases e fofos caixões de papéis de seda bem combinados, crespos e leves como plumas, imagina que de novidades graciosas se juntarão no Palácio da Indústria.
Naturalmente, cada expositor é um arquiteto e um artista na combinação das cores. Fazem-se castelos de biscoitos, torres engenhosas de chocolate, de creme, de morangos, onde tremulem, em cristalizações de várias cores, as gelatinas de frutas ou de aves, refletindo luzes entre lacinhos de fita e flores frescas, porque o francês tem a preocupação gentilíssima de deleitar sempre os olhos alheios.
Abençoada mania!
O que eu invejo não são as trutas, nem os champignons, nem o seu foie-gras, porque tudo isso temos nós aqui e mais muitas coisas que eles lá desconhecem. O que eu invejo é aquela facilidade, aquela graça das exposições que se sucedem e se multiplicam e que não podem deixar de ser úteis, porque abrem a curiosidade e ensinam muito.
A cozinha francesa tem-se intrometido em toda a parte.
A Inglaterra opõe-lhe forte resistência com as suas batatas cozidas e presunto cru; mas a nossa, por exemplo, está muito modificada por ela. Entretanto, temos pratos característicos, só nossos, e que eu teimo em achar gostosos.
Infelizmente falta-lhes o chic, o lado onde se possa atar a tal fitinha ou colocar o bouquet de violetas do inverno ou do muquet da primavera. O feijão preto com o respectivo e lutuoso acompanhamento não se presta por certo para a coquetterie de um adorno mimoso, mas nem por isso deixa de ser da primeira linha. Depois temos os pratos baianos, o afamado vatapá e outros, quentes e lúbricos, e o churrasco do Rio Grande, e o cuscuz de S. Paulo, e tantos que eu ignoro e que descobrem, demonstram, por assim dizer, as tendências, o temperamento do povo.
Um país como o Brasil tão vasto e variado não teria proporções mais curiosas para realizar uma exposição neste gênero?
Só de frutas, que, tratando-se da mesa, tem todo o lugar, e de doces... imaginem: faríamos um figurão! Geralmente caluniam-se as frutas brasileiras e parece-me tempo de lhes irmos dando a merecida importância. Não há nenhum brasileiro que conheça todas as frutas do seu país. O europeu desdenha-nos nesse sentido; esquece-se de que em muitos lugares do Paraná, Minas e Rio Grande, desenvolvem-se pêras magníficas, damascos, cerejas, nozes, etc.
E as frutas e as hortaliças indígenas? Inumeráveis! O que falta à nossa gourmandise é poder agrupá-las, poder escolher, na mesma terra, estas ou aquelas, e isso só se poderá fazer se houver aqui, algum dia, como agora em Paris, quem dê importância à mesa, e procure, por meio de exposições, facilitar esse ramo de comércio, educar o povo, e dar-lhe um elemento novo de prazer e de saúde.
A exposição parisiense tem ainda um fito, e é a sua principal recomendação e a mais elevada, - é o de ensinar, por meio do exemplo, a cozinhar bem. Um dos seus cantos é ocupado por M. Charles Driessens, que segundo leio, luta há dez anos com desesperada energia para fazer entrar o ensino da cozinha no programa do Estado.
Este tal M. Driessens tem várias escolas de cozinha, e ali trabalham umas cinqüenta discípulas, mostrando a toda a gente como se deve fazer um creme, estender uma massa, temperar uma salada, grelhar um bife ou enfeitar uns pezinhos de carneiro com papelotes e rosetas.
As senhoras não nasceram para falar em camarões, carne ou palmito, em público; mas, senhores românticos, lembrai-vos de que nem sempre nos bastam o brilho das estrelas nem o murmúrio das ondas para conversar com as amigas!
.....................................................................................................
56- A LENDA DO PIRARUCU
(Região Norte do Brasil, Amazonas)
O pirarucu é um peixe da Amazônia, cujo comprimento pode chegar até 2 metros.
Suas escamas são grandes e rígidas o suficiente para serem usadas como lixas de unha, como artesanato ou simplesmente vendidas como souvenirs.
A carne do pirarucu é suave e usada em pratos típicos da região.
Pode também ser preparada de outras maneiras, freqüentemente salgada e exposta ao sol para secar.
Se fresca ou seca, a carne do pirarucu é sempre uma delícia em qualquer receita.
Pirarucu era um índio que pertencia a tribo dos Uaiás a qual habitava as planícies de Lábrea no sudoeste da Amazônia.
Ele era um bravo guerreiro, mas tinha um coração perverso, mesmo sendo filho de Pindarô, um homem de bom coração e também chefe da tribo.
Pirarucu era cheio de vaidades, egoísmo e excessivamente orgulhoso de seu poder.
Um dia, enquanto seu pai fazia uma visita amigável a tribos vizinhas.
Pirarucu se aproveitou da ocasião para tomar como reféns os índios da aldeia e executá-los sem nenhum motivo.
Pirarucu também adorava criticar os deuses.
Tupã, o deus dos deuses, observou Pirarucu por um longo tempo, até que cansado daquele comportamento, decidiu punir Pirarucu.
Tupã chamou Polo e ordenou que ele espalhasse seu mais poderoso relâmpago na área inteira.
Ele também chamou Iururaruaçu, a deusa das torrentes, e ordenou que ela provocasse as mais fortes torrentes de chuva sobre Pirarucu, que estava pescando com outros índios às margens do rio Tocantins, não muito longe da aldeia.
O fogo de Tupã foi visto por toda a floresta.
Quando Pirarucu percebeu as ondas furiosas do rio e ouviu a voz enraivecida de Tupã, ele somente as ignorou com uma risada e palavras de desprezo.
Então Tupã enviou Xandoré, o demônio que odeia os homens, para atirar relâmpagos e trovões sobre Pirarucu, enchendo o ar de luz.
Pirarucu tentou escapar, mas enquanto ele corria por entre os galhos das árvores um relâmpago fulminante enviado por Xandoré acertou o coração do guerreiro que, mesmo assim, recusou-se a pedir perdão.
Todos aqueles que se encontravam com Pirarucu correram para a selva, terrivelmente assustados.
Depois o corpo de Pirarucu, ainda vivo, foi levado para as profundezas do rio Tocantins e transformado em um peixe gigante e escuro.
Pirarucu desapareceu nas águas e nunca mais retornou, mas por um longo tempo ainda foi o terror da região.
.....................................................................................................
57- PLEBISCITO
Arthur Azevedo
A cena passa-se em 1890.
A família está toda reunida na sala de jantar.
O senhor Rodrigues palita os dentes, repimpado numa cadeira de balanço. Acabou de comer como um abade.
Dona Bernardina, sua esposa, está muito entretida a limpar a gaiola de um canário belga.
Os pequenos são dois, um menino e uma menina. Ela distrai-se a olhar para o canário.
Ele, encostado à mesa, os pés cruzados, lê com muita atenção uma das nossas folhas diárias.
Silêncio.
De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta:
— Papai, que é plebiscito?
O senhor Rodrigues fecha os olhos imediatamente para fingir que dorme.
O pequeno insiste:
— Papai?
Pausa:
— Papai?
Dona Bernardina intervém:
— Ó seu Rodrigues, Manduca está lhe chamando. Não durma depois do jantar, que lhe faz mal.
O senhor Rodrigues não tem remédio senão abrir os olhos.
— Que é? Que desejam vocês?
— Eu queria que papai me dissesse o que é plebiscito.
— Ora essa, rapaz! Então tu vais fazer doze anos e não sabes ainda o que é plebiscito?
— Se soubesse, não perguntava.
O senhor Rodrigues volta-se para dona Bernardina, que continua muito ocupada com a gaiola:
— Ó senhora, o pequeno não sabe o que é plebiscito!
— Não admira que ele não saiba, porque eu também não sei.
— Que me diz?! Pois a senhora não sabe o que é plebiscito?
— Nem eu, nem você; aqui em casa ninguém sabe o que é plebiscito.
— Ninguém, alto lá! Creio que tenho dado provas de não ser nenhum ignorante!
— A sua cara não me engana. Você é muito prosa. Vamos: se sabe, diga o que é plebiscito! Então? A gente está esperando! Diga!...
— A senhora o que quer é enfezar-me!
— Mas, homem de Deus, para que você não há de confessar que não sabe? Não é nenhuma vergonha ignorar qualquer palavra.
Já outro dia foi a mesma coisa quando Manduca lhe perguntou o que era proletário. Você falou, falou, falou, e o menino ficou sem saber!
— Proletário — acudiu o senhor Rodrigues — é o cidadão pobre que vive do trabalho mal remunerado.
— Sim, agora sabe porque foi ao dicionário; mas dou-lhe um doce, se me disser o que é plebiscito sem se arredar dessa cadeira!
— Que gostinho tem a senhora em tornar-me ridículo na presença destas crianças!
— Oh! Ridículo é você mesmo quem se faz.
Seria tão simples dizer: — Não sei, Manduca, não sei o que é plebiscito; vai buscar o dicionário, meu filho.
O senhor Rodrigues ergue-se de um ímpeto e brada:
— Mas se eu sei!
— Pois se sabe, diga!
— Não digo para me não humilhar diante de meus filhos! Não dou o braço a torcer!
Quero conservar a força moral que devo ter nesta casa! Vá para o diabo!
E o senhor Rodrigues, exasperadíssimo, nervoso, deixa a sala de jantar e vai para o seu quarto, batendo violentamente a porta.
No quarto havia o que ele mais precisava naquela ocasião: algumas gotas de água de flor de laranja e um dicionário...
A menina toma a palavra:
— Coitado de papai! Zangou-se logo depois do jantar! Dizem que é tão perigoso!
— Não fosse tolo — observa dona Bernardina — e confessasse francamente que não sabia o que é plebiscito!
— Pois sim — acode Manduca, muito pesaroso por ter sido o causador involuntário de toda aquela discussão — pois sim, mamãe; chame papai e façam as pazes.
— Sim! Sim! façam as pazes! — diz a menina em tom meigo e suplicante. — Que tolice! Duas pessoas que se estimam tanto zangaram-se por causa do plebiscito!
Dona Bernardina dá um beijo na filha, e vai bater à porta do quarto:
— Seu Rodrigues, venha sentar-se; não vale a pena zangar-se por tão pouco.
O negociante esperava a deixa. A porta abre-se imediatamente.
Ele entra, atravessa a casa, e vai sentar-se na cadeira de balanço.
— É boa! — brada o senhor Rodrigues depois de largo silêncio — é muito boa! Eu! eu ignorar a significação da palavra plebiscito! Eu!...
A mulher e os filhos aproximam-se dele.
O homem continua num tom profundamente dogmático:
— Plebiscito...
E olha para todos os lados a ver se há ali mais alguém que possa aproveitar a lição.
— Plebiscito é uma lei decretada pelo povo romano, estabelecido em comícios.
— Ah! — suspiram todos, aliviados.
— Uma lei romana, percebem? E querem introduzi-la no Brasil! É mais um estrangeirismo!...
.....................................................................................................
58- O Cemitério
Lima Barreto
Pelas ruas de túmulos, fomos calados.
Eu olhava vagamente aquela multidão de sepulturas, que trepavam, tocavam-se, lutavam por espaço, na estreiteza da vaga e nas encostas das colinas aos lados.
Algumas pareciam se olhar com afeto, roçando-se amigavelmente; em outras, transparecia a repugnância de estarem juntas.
Havia solicitações incompreensíveis e também repulsões e antipatias; havia túmulos arrogantes, imponentes, vaidosos e pobres e humildes; e, em todos, ressumava o esforço extraordinário para escapar ao nivelamento da morte, ao apagamento que ela traz às condições e às fortunas.
Amontoavam-se esculturas de mármore, vasos, cruzes e inscrições; iam além; erguiam pirâmides de pedra tosca, faziam caramanchéis extravagantes, imaginavam complicações de matos e plantas – coisas brancas e delirantes, de um mau gosto que irritava.
As inscrições exuberavam; longas, cheias de nomes, sobrenomes e datas, não nos traziam à lembrança nem um nome ilustre sequer; em vão procurei ler nelas celebridades, notabilidades mortas; não as encontrei.
E de tal modo a nossa sociedade nos marca um tão profundo ponto, que até ali, naquele campo de mortos, mudo laboratório de decomposição, tive uma imagem dela, feita inconscientemente de um propósito, firmemente desenhada por aquele acesso de túmulos pobres e ricos, grotescos e nobres, de mármore e pedra, cobrindo vulgaridades iguais umas às outras por força estranha às suas vontades, a lutar...
Fomos indo. A carreta, empunhada pelas mãos profissionais dos empregados, ia dobrando as alamedas, tomando ruas, até que chegou à boca do soturno buraco, por onde se via fugir, para sempre do nosso olhar, a humildade e a tristeza do contínuo da Secretaria dos Cultos.
Antes que lá chegássemos, porém, detive-me um pouco num túmulo de límpidos mármores, ajeitados em capela gótica, com anjos e cruzes que a rematavam pretensiosamente. Nos cantos da lápide, vasos com flores de biscuit e, debaixo de um vidro, à nívea altura da base da capelinha, em meio corpo, o retrato da morta que o túmulo engolira.
Como se estivesse na Rua do Ouvidor, não pude suster um pensamento mau e quase exclamei:
— Bela mulher!
Estive a ver a fotografia e logo em seguida me veio à mente que aqueles olhos, que aquela boca provocadora de beijos, que aqueles seios túmidos, tentadores de longos contatos carnais estariam àquela hora reduzidos a uma pasta fedorenta, debaixo de uma porção de terra embebida de gordura.
Que resultados tiveram a sua beleza na terra? Que coisas eternas criaram os homens que ela inspirou? Nada, ou talvez outros homens, para morrer e sofrer. Não passou disso, tudo mais se perdeu; tudo mais não teve existência, nem mesmo para ela e para os seus amados; foi breve, instantâneo, e fugaz.
Abalei-me! Eu que dizia a todo o mundo que amava a vida, eu que afirmava a minha admiração pelas coisas da sociedade – eu, meditar como um cientista profeta hebraico! Era estranho!
Remanescente de noções que se me infiltraram e cuja entrada em mim mesmo eu não percebera! Quem pode fugir a elas?
Continuando a andar, adivinhei as mãos da mulher, diáfanas e de dedos longos; compus o seu busto ereto e cheio, a cintura, os quadris, o pescoço, esguio e modelado, as espáduas brancas, o rosto sereno e iluminado por um par de olhos indefinidos de tristeza e desejos...
Já não era mais o retrato da mulher do túmulo; era de uma viva, que me falava.
Com que surpresa, verifiquei isso.
Pois eu, eu que vivia desde os dezesseis anos, despreocupadamente, passando pelos olhos, na Rua do Ouvidor, todos os figurinos dos jornais de modas, eu me impressionar por aquela menina do cemitério! Era curioso.
E, por mais que procurasse explicar, não pude.
.....................................................................................................
59- PSICOLOGIA DE UM VENCIDO
Augusto dos Anjos
Eu, filho do carbono e do amoníaco,
Monstro de escuridão e rutilância,
Sofro, desde a epigênese da infância,
A influência má dos signos do zodíaco.
Profundíssimamente hipocondríaco,
Este ambiente me causa repugnância...
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia
Que se escapa da boca de um cardíaco.
Já o verme - este operário das ruínas -
Que o sangue podre das carnificinas
Come, e à vida em geral declara guerra,
Anda a espreitar meus olhos pra roê-los,
E há de deixar-me apenas os cabelos,
Na frialdade inorgânica da terra!
.....................................................................................................
60-
Dieter Roos
a única coisa
que ainda
lhe falta
é a alegria
no que tem
as coisas
ficam sem sentidos
quando deixamos
de senti-las
.....................................................................................................
61-
Dieter Roos
a pergunta
vem de fora -
mas a resposta
tu deves achar
dentro de ti
.....................................................................................................
62-
Dieter Roos
não procures :
deixe-te
achar !
.....................................................................................................
63-
Dieter Roos
não és tu
que andas o caminho :
é o caminho
que te anda
.....................................................................................................
64-
Dieter Roos
nascer
viver
e morrer :
somente a morte
nos traz de volta
a liberdade
a qual a vida
cobiça
.....................................................................................................
65- O VESTUÁRIO FEMININO
Júlia Lopes de Almeida
É uma esquisitice muito comum, entre senhoras intelectuais, envergarem paletó, colete e colarinho de homem, ao apresentarem-se em público, procurando confundir-se, no aspecto físico, com os homens, como se lhes não bastassem as aproximações igualitárias do espírito.
Esse desdém da mulher pela mulher faz pensar que: ou as doutoras julgam, como os homens, que a mentalidade da mulher é inferior, e que, sendo elas exceção da grande regra, pertencem mais ao sexo forte, do que ao nosso, fragílimo; ou que isso revela apenas pretensão de despretensão.
Seja o que for, nem a moral nem a estética ganham nada com isso.
Ao contrário; se uma mulher triunfa da má vontade dos homens e das leis, dos preconceitos do meio e da raça, todas as vezes que for chamada ao seu posto de trabalho, com tanta dor, tanta esperança e tanto susto adquirido, deve ufanar-se em apresentar-se como mulher. Seria isso um desafio?
Não; naturalíssimo pareceria a toda a gente que uma mulher se apresentasse em público como todas as outras.
Basta ver um jornal feminista para toparmos logo com muitos retratos de mulheres célebres, cujos paletós, coletes e colarinhos de homem, parecem querer mostrar ao mundo que está ali dentro um caráter viril e um espírito de atrevidos impulsos.
Cabelos sacrificados à tesoura, lapelas (sem flor!) de casacos escuros, saias esguias e murchas, afeiam corpos que a natureza talhou para os altos destinos da graça e da beleza.
Os colarinhos engomados, as camisas de peito chato, dão às mulheres uma linha pouco sinuosa, e contrafeita, porque é disfarçada.
Médicas, engenheiras, advogadas, farmacêuticas, escritoras, pintoras etc. por amarem e se devotarem às ciências e às artes, porque hão de desdenhar em absoluto a elegância feminina e procurar nos figurinos dos homens a expressão da sua individualidade?
Há certas mulheres, precisamos convir, que têm desculpa na adoção dos murchos trajes masculinos, porque para elas isso não representa uma questão de estética, mas de incontestável necessidade - as exploradoras, por exemplo.
A essas, as saias impediriam as passadas e os saltos, no labirinto enredado dos cipoais, entre todos os obstáculos das florestas eriçadas de espinhos e cortadas de valos a transpor.
As calças grossas e as altas polainas são para elas, portanto, não objeto de fantasia, mas de comodidade e salvamento. O pano flutuante do vestido prendê-las-ia de instante a instante aos troncos e às arestas do caminho, e, quando molhado, pesar-lhes-ia no corpo como chumbo.
Por exigências de comodidade no trabalho, também escultoras e pintoras se sujeitam muitas vezes a vestirem-se assim e só quando executam obras de grandes dimensões. As calças facilitam então as subidas e as descidas de andaimes e de escadas.
Rosa Bonheur, conta-nos um seu biógrafo, surpreendida no atelier pela notícia de que a imperatriz Eugênia entrava em sua casa para oferecer-lhe a Legião de Honra, - viu-se atrapalhada para enfiar às pressas os trajes do seu sexo e poder receber respeitosamente a soberana.
Só de portas a dentro ela abusava dessas entradas por seara alheia, para usar com liberdade de todos os seus movimentos; mas desde que a artista era procurada por estranhos, ela aparecia como mulher.
Nas cidades, sobre o asfalto das ruas ou o saibro das alamedas, não sabe a gente verdadeiramente para que razão apelar, quando vê, cingidas a corpos femininos, essas toilettes híbridas, compostas de saias de mulher, coletes e paletós de homem...
Nem tampouco é fácil de perceber o motivo por que, em vez da fita macia, preferem essas senhoras especar o pescoço num colarinho lustrado a ferro, e duro como um papelão!
.....................................................................................................
66- O PAPAGAIO TRAÍDO
Humberto de Campos
O maior desejo do Anselmo Pimenta era possuir um papagaio. Toda vez que partia um amigo para o norte, a sua encomenda era certa:
- Manda de lá um papagaio; ouviste? Eu pago as despesas!
E nunca ninguém lho havia mandado. Um dia, porém, lá ia o Pimenta pela rua Sete de Setembro, quando viu, em uma casa de aves, uma gaiola com dois "louros" que eram uma beleza, como figura e como colorido: um maior, todo verde e amarelo, com encontros vermelhos nas asas, e outro menor, mais leve, demonstrando no porte e nas penas a modéstia e a fragilidade do sexo.
- Quer vender um desses papagaios? - indagou, entrando, do dono da casa.
- Não, senhor; isto é um casal: um macho e uma fêmea. O macho é aquele maior, mais vistoso, mais bonito.
Mas não são para vender, não. Agora, se o senhor quiser, eu lhe vendo aí uns ovos; dentro de quinze dias estão tirados.
Anselmo Pimenta comprou quatro ovos, a dois mil réis cada um.
Em casa, pôs debaixo de uma galinha que chocava, e, doze dias depois, ficou escandalizado, ao ver sair dos quatro ovos um pinto e três pombos. Pondo o chapéu na cabeça ganhou a rua.
Na casa de aves perguntou pelo papagaio.
- Está ali, - disseram-lhe, indicando-lhe a gaiola, com o casal de "louros".
Anselmo aproximou-se, procurando, com os olhos, a ave maior.
- Papagaio, - disse, em tom quase confidencial, - eu preciso falar com você. Quem avisa amigo é...
E arregalando a pálpebra esquerda com o dedo, indicando a ave fêmea:
- Abra o olho com ela, hein?!...
.....................................................................................................
67- QUIROMANCIA
Júlia Lopes de Almeida
Uma bela tarde, a minha amiga Rafaela entrou arrebatadamente na minha saleta de trabalho e deixou-se cair num tamborete, a meus pés.
- Que tens? Perguntei-lhe assustada, percebendo-lhe o terror no rosto, ordinariamente repousado.
Por única resposta ela estendeu-me a mão espalmada e nua, e arregalou para mim os seus olhos claros, cor de violeta.
- Não percebo o teu gesto... roubaram-te o anel que ele te deu?... Não abranges a oitava no piano e desistes de o estudar?
Terás reumatismo nos dedos? Bem; se não queres responder, vai-te embora, mas arranja primeiro o chapéu, que está torto, e modifica esse ar de quem foge de alguém que o persegue na rua...
- Ninguém me seguiu na rua...o anel que ele me deu está na outra mão...
E, como orvalho em violetas, borbulharam lágrimas nos olhos da pobre Rafaela.
- Se pudesses explicar-te...
- Escuta, venho da casa da Noêmia Saldanha; havia lá gente de fora, uns homens de quem já não me lembro do nome e um certo rapaz que lia nas mãos das senhoras a buena dicha, ou que melhor nome tenha.
Quando eu entrei, a Saldanha disse alto, com os seus guinchinhos de macaca: "Olhem quem vem aí!" e puxou-me com violência para a roda, que se abriu muito amável para me receber.
O tal rapaz continuou nos seus prognósticos, que faziam rir a todos.
Lia na mão da Sinhá Mendes coisas muito bonitas: que ela se haveria de casar com um moço que a adora... que há de ir à Europa, que há de ter três filhos gordos, mansos, fortes e bonitos; que herdará uma grande fortuna de um parente afastado de quem não terá saudades; que terá lindos vestidos, bons carros, assinaturas no lírico e que morrerá de velha, sem sentir, de uma síncope...
Todos riam; a Sinhá estava radiante! Com aquele exemplo, eu fui insensivelmente desabotoando a luva e estendendo também a minha mão.
O rapaz tornou-se sombrio, à proporção que a observava.
Como eu instasse para que dissesse a verdade, fosse ela qual fosse, ele, muito constrangido, declarou tudo.
Disse que não me casarei, que terei bexigas, apesar de vacinada duas vezes, e que ficarei marcada como um crivo; disse que a minha família me abandonará e que morrerei ainda moça, de um ataque, na rua! Vida tão feia não merece melhor desfecho!
- Um ataque na rua! Que ignomínia! Vê tu!
- E depois?
- Depois... que sou muito nervosa - e isto é verdade! - que tenho uma grande paixão...também é certo... que tenho excelentes qualidades de coração, o que não me impedirá de morrer como um cão sem dono, na calçada...
- Que mais?
- Ainda querias mais?!
- Que respondeste?
- Fingi heroicidade, que é sempre o nosso costume, mas sabe Deus o que se passava cá dentro!
Quando pude fugir, fugi. Os guinchos da Noêmia perseguiam-me; a alegria da Sinhá irritava-me.
A felicidade dos outros agrava o nosso infortúnio. Só hoje compreendi isto.
Por mais que eu olhe para a mão, para estes caminhos que parecem traçados na palma pela ponta finíssima de um alfinete e por onde marcham os nossos instintos, os nossos segredos e até o nosso futuro se esclarece, por mais que eu observe toda esta rede complicadíssima, não consigo descobrir nada! Se ele se tivesse enganado?!
Mas não; vi que falou com toda a convicção, disse a verdade.
Eu agora já sei; abandono-me, aceito o meu destino, o meu feio destino de ser medonha, não ser amada e morrer numa calçada, à vista de quem passar na ocasião!
- Não vês, minha tontinha, que te meteram num enredo? Vou apostar que o tal rapaz entende tanto de quiromancia como eu.
- Ah, a quiromancia é uma arte!
- E nas salas uma armadilha maliciosa à ingenuidade de certas moças...
Quando tiveres algum segredo que não queiras ver profanado, nem pela mais leve suspeita, abotoa bem as tuas luvas ao entrar em certas salas.
Entretanto, fica certa de que não será nas linhas da mão que ele se mostre todo, mas no rubor das tuas faces ou no pestanejar dos teus olhos, que serão consultados à proporção que se faça a leitura fatídica. Quanto ao resto, o rapaz, se não foi absolutamente delicado, não deixou de ter uma pontinha de espírito. Sinhá é feia, tu és bonita; ela roça pelos trinta anos, tu ainda não tens vinte, ele quis igualar-vos momentaneamente, vestindo-te de desapontamento e iluminando a outra de alegria. Na tua idade os segredos são leves e fáceis de adivinhar; em todo caso guarda-os contigo, ou só para a confidência amiga. O recato do sentimento, fortifica-o e enobrece-o. E o coração de uma donzela não se deve devassar a todas as curiosidades...
Ele é, como disse o poeta Vigny: un vase sacré tout rempli de secrets, ou seja, um vaso sagrado todo repleto de segredos.
.....................................................................................................
68- O PERIGO DAS PROFECIAS
Humberto de Campos
Quando se divulgou pela cidade a notícia de que Alexandre da Gama assassinara a mulher com sete punhaladas, ninguém atinou com o motivo daquele crime. Sabia-se, apenas, que os dois haviam passado a tarde fora de casa, e que, na volta, se haviam empenhado numa discussão, que terminou naquela desgraça.
Um repórter conseguiu, porém, descobrir tudo.
Supersticiosos os dois, tinham o Alexandre e a esposa convencionado procurar uma cartomante, para sondarem o poço misterioso do seu destino.
- Toma: leva dez mil réis para a consulta - dissera o Alexandre.
E metendo, por seu turno, dez mil réis no bolso do colete, ganhara a rua, combinando um encontro às seis em ponto, em frente à casa da bruxa.
À hora aprazada encontraram-se.
- Que te disse ela? Indagou o rapaz, ansioso.
- Boas coisas - informou a Rosita.
- Disse-te que ias ter filhos?
- Disse.
- Quantos?
- Três.
- Como?
- Três - confirmou a rapariga.
O Alexandre ficou vermelho.
- E como é – rugiu - que ela me disse que eu só teria um?
Horas depois, dava-se o crime.
.....................................................................................................
69
Dieter Roos
é o tempo
que diferencia entre
a vida e a morte
é o tempo
que separa a vida
da morte
é o tempo
que diz :
“vida”
ou
“morte”
.....................................................................................................
70- Dieter Roos
o que torna a morte
uma coisa tão triste
é a certeza
que os outros
vão continuar a viver
.....................................................................................................
71-
Dieter Roos
uma verdade
só é verdade
se seu contrário
também fosse verdade
.....................................................................................................
72- SINCERIDADE
Humberto de Campos
Sem pai, sem mãe, sem parentes, o Conrado voltara do serviço militar sem saber, mesmo, para onde fosse.
Dos amigos da família, poucos restavam; e entre estes estava o Antônio Luiz, proprietário de uma pequena casa de móveis, cuja esposa o havia abandonado no mundo deixando-lhe, apenas, como documento de fidelidade matrimonial, a Ernestina e a Lulu, que andavam, agora, a primeira pelos vinte anos, a segunda pelos dezoito.
Acolhido pelo Antônio Luiz, que lhe deu casa e emprego, achou o Conrado que o melhor modo de pagar ao velho aquela dívida de gratidão seria casar uma das meninas, embora as soubesse alegres demais, para um homem trabalhador. E foi com essa idéia que, um dia, em conversa, tocou no assunto ao comerciante.
- Mas qual das duas você pretende? - indagou o velho.
- Eu? A mim é indiferente. O senhor que as conhece bem, é que pode ver qual das duas me servirá.
Antônio Luiz puxou a última fumaça do cachimbo de espuma, bateu-o, desentupindo-o, e falou, com a mão na consciência.
- Meu filho, isso depende de você. Se você pretende mulher que lhe dê filhos, fique com a mais velha; se, porém, quer uma que não lhos dê, escolha a mais nova.
E a um olhar interrogativo do rapaz:
- Sim, porque, se ela tivesse de tê-los, já os teria tido!
.....................................................................................................
73- MITO DO CAIPORA
(folclore brasileiro)
Os índios já conheciam o mito do Caipora desde a época do descobrimento.
Índios e jesuítas também chamavam o Caipora de Caiçara, o protetor da caça e das matas.
O Caipora é um anão muito poderoso e forte, de cabelos vermelhos, com pêlo e dentes verdes.
Como protetor das árvores e dos animais, costuma punir os agressores da Natureza e os caçadores que matam por prazer.
Seus pés voltados para trás servem para despistar os caçadores, deixando-os sempre a seguir rastros falsos.
Quem o vê, perde totalmente o rumo, e não sabe mais achar o caminho de volta para casa. É impossível capturá-lo.
Para atrair suas vítimas, às vezes ele chama as pessoas com gritos que imitam a voz humana.
É também chamado de Pai ou Mãe-do-Mato, Curupira e Caapora. Para os Índios Guaranis, ele é o Demônio da Floresta.
Às vezes é visto montando um Porco do Mato.
Uma carta do Padre Anchieta datada de 1560, dizia: “Aqui há certos demônios, a que os índios chamam Curupira, que os atacam muitas vezes no mato, dando-lhes açoites e ferindo-os bastante”. Para agradar o Caipora, os índios deixavam penas, esteiras e cobertores nas clareiras.
De acordo com as crenças populares, ao entrarmos numa mata, devemos levar um rolo de fumo para agradar o Caipora, no caso de cruzarmos com ele.
.....................................................................................................
74- O ALCE
Humberto de Campos
Era nas margens do rio Cobar, ainda sem limo e sem nome, que se escancarava, dia e noite, naqueles tempos inocentes do mundo, a boca monstruosa da caverna. Aberta na rocha bruta pela força inconsciente das grandes águas primitivas, a enorme furna constituíra o refúgio seguro dos tímidos veados perseguidos, que ali iam repousar, assustados, contra a voracidade dos leões do deserto. Um rebanho de cabras silvestres habitava-a, alarmando a ribanceira alta, quando o troglodita chegou, com a sua azagaia e a sua clava, disposto a ocupá-la. Os caprinos partiram em tumulto, pulando de rochedo em rochedo, estalando as unhas ásperas nas pedras escuras da margem, e o homem ficou só com as suas armas e a sua coragem, diante da natureza misteriosa.
Quatro luas depois, a caverna das margens do rio era um lar, semente de uma família, esboço indeciso de uma tribo.
Viviam nela em paz e em silêncio, Djeb, o caçador de ursos; Elam, domesticador de abelhas selvagens; e Heva, companheira e escrava de Elam. Vagavam, Elam e Heva, quase perdidos, pela solidão daquelas florestas ocidentais, quando encontraram Djeb, e passaram a caminhar juntos, solidários contra os perigos infinitos da selva. A caverna, descoberta por Djeb, serviu-lhes de abrigo. À noite, aceso o fogo na pedra porejante, a goela enorme iluminava-se e os ursos, os tigres, os mamutes, os cervos, os leões, os elefantes, os próprios cavalos bravios, paravam inquietos, perguntando-se em silêncio que monstro era aquele, que abria a garganta vermelha, onde dançavam línguas de chama, na encosta solitária da montanha.
A vida na caverna era monótona, mas doce. Madrugada alta, quando vinham longe, ainda, os primeiros alvores do dia, Djeb chegava à boca da furna, defendida por grandes pedras amontoadas, consultava as horas pela marcha silenciosa das estrelas, prendia mais ao seu pescoço de urso selvagem a grande pele de tigre, examinava a extremidade da azagaia, cortada nas pontas agudas de um antílope, e partia cauteloso, a surpreender os grandes ursos herbívoros adormecidos.
Às vezes, desviavam-no no seu caminho bandos de cerdos, que perseguia na carreira, abalando com o estrondo dos seus passos a enorme floresta repousada. Outras vezes deixava-se ir sem destino, até sair, dia alto, nas grandes várzeas pontilhadas do sangue dos cardos floridos, de onde rebanhos de cavalos partiam correndo e relinchando em galope largo, à sua aproximação.
Nessas viagens de nômade, passava o troglodita dias e dias comendo nas mãos, de grandes unhas, pedaços de carne de urso mal tostada, e bebendo, de bruços, na correnteza dos rios ou, de pé, no lençol espumante das cachoeiras. De repente, retrocedia sobre os próprios passos, como se o perseguissem, uivando todas as feras da floresta. Penetrava na caverna, arrastava pelo braço a escrava do companheiro, atirava-a sobre as folhas do leito, e amava, como os lobos, como os tigres, como os cães errantes da selva, como todos os seres da terra bárbara. Em seguida tomava, de novo, as suas armas, e partia sem rumo, enquanto a mulher se erguia, sem revolta, do monte de folhas, atirando para as costas o tumultuoso caudal dos cabelos desordenados.
Uma tarde penetrava Elam na caverna, quando ouviu, entre a queixa dos ramos do leito, os rugidos de amor do companheiro que regressara. Sob a sua cabeça fulva como a dos leões, os cabelos de Heva, mais fartos e mais claros, punham uma grande mancha no verde esmaecido das folhas. Estacou, olhando-os, e retrocedeu.
Uma grande angústia enchia-lhe o abismo do coração. Sobre os seus ombros, vergando-o, oprimindo-o, havia o peso de um mundo. À sua inteligência de primitivo parecia que a floresta havia rolado, com toda a brutalidade dos seus troncos e dos seus ramos, sobre a sua cabeça impotente.
Um desejo irresistível, teimoso, imperativo, chamava-o de novo para a furna, onde deixara, enlaçados como dois lobos, o amigo e a companheira. Detinha-se, porém, indeciso, olhando o chão, onde grandes formigas carregavam, ajudando-se mutuamente, pedaços de folhas, cortadas de um tinhorão nascido sobre uma pedra.
Olhou-as, e pensou:
- As mulheres são, talvez, como o tinhorão que nasce na pedra; todas as formigas podem devorá-lo...
Repeliu, no entanto, o pensamento, e continuou a andar sem destino. Amanhecia quando o domesticador de abelhas chegou, com a sua azagaia de caça, à orla da floresta, longe do rio. A cautela involuntária com que andava tornou a sua aproximação imperceptível aos habitantes da clareira. Um búfalo, apenas, suspeitou da sua presença, aspirando com força o ar circunstante, desconfiado. Alguns cervos ergueram a cabeça eriçada de galhos entrecruzados, afilando as orelhas para maior percepção dos rumores.
Tudo voltou, porém, à quietude, à serenidade, à paz confiante, com a imobilidade de Elam, oculto, como um verme, pelo tronco de uma grande faia de raízes à flor do solo.
O nômade examinava, interessado, a vida harmônica das coisas, quando se aproximou da orla da selva um grande alce cujas pontas ultrapassavam a altura de um elefante. Atrás dele, caminhava, tosquiando a relva tenra, uma cerva de pêlo ruivo, que parecia tranqüila, como se confiasse inteiramente a sua segurança à coragem vigilante do companheiro.
De repente, surgiu da floresta, dirigindo-se em sentido contrário, outro alce solitário, que se pôs a marchar no rumo da grande corça primitiva. O alce da várzea ergueu a cabeça semeada de pontas e berrou alto.
O outro respondeu, e defrontaram-se. Um ruído de ramos secos estalou, na fúria do encontro.
Com os galhos emaranhados, cruzados, confundidos, os dois quadrúpedes vergavam o dorso, em dois arcos enormes.
Um ruído mais forte anunciou que a luta ia terminar. Com a cabeça voltada, o alce agressor tombou por terra num berro convulsivo, trêmulo, estrangulado, que assustou os ursos distantes. O veado vitorioso desembaraçou-se do vencido, recuou dois passos, investiu contra o corpo palpitante, perfurou-lhe o ventre com duas marradas violentas, remexendo-lhe as vísceras, com as pontas agudas. Em seguida, baliu, alto, chamando a companheira.
Esta se achegou amorosa, lambendo-lhe o pêlo, como num agradecimento comovido.
E continuaram a pastar, juntos, à claridade cariciosa do sol, as ervas tenras da clareira...
Elam acompanhara, imóvel, a grande luta dos cervos. Quando o combate acabou, o bárbaro retomou a azagaia, examinando-lhe as pontas, e retrocedeu, na direção da caverna.
Na manhã seguinte, as águas do rio lavavam, pela primeira vez, na furna dos trogloditas, o sangue de um homem.
.....................................................................................................
75- O MEU TEMPO
Arnaldo Antunes
O meu tempo não é o seu tempo.
O meu tempo é só meu.
O seu tempo é seu e de qualquer pessoa,
até eu.
O seu tempo é o tempo que voa.
O meu tempo só vai onde eu vou.
O seu tempo está fora, regendo.
O meu dentro, sem lua e sem sol.
O seu tempo comanda os eventos.
O seu tempo é o tempo, o meu sou.
O seu tempo é só um para todos,
O meu tempo é mais um entre muitos.
O seu tempo se mede em minutos,
O meu muda e se perde entre os outros.
O meu tempo faz parte de mim,
não do que eu sigo.
O meu tempo acabará comigo
no meu fim.
.....................................................................................................
76- O LÍRICO LAMARTINE (Desembargador Lamartine de Campos)
Alcântara Machado
Desembargador. Um metro e setenta e dois centímetros culminando na careca aberta a todos os pensamentos nobres, desinteressados, equânimes. E o fraque. O fraque austero como convém a um substituto profano da toga.
E os óculos. Sim: os óculos. E o anelão de rubi. É verdade: o rutilante anelão de rubi. E o todo de balança.
Principalmente o todo de balança. O tronco teso, a horizontalidade dos ombros, os braços a prumo.
Que é que carrega na mão direita? A pasta. A divina Temis não se vê. Mas está atrás. Naturalmente.
Sustentando sua balança. Sua balança: o Desembargador Lamartine de Campos.
Aí vem ele.
Paletó de pijama sim. Mas colarinho alto.
- Joaquina, sirva o café.
Por enquanto o sofá da saleta ainda chega para Dona Hortênsia.
Mas amanhã? No entanto o desembargador desliza um olhar untuoso sobre os untos da metade.
O peso da esposa sem dúvida possível e o índice de sua carreira de magistrado.
Quando o desembargador se casou (era promotor público e tinha uma capa espanhola forrada de seda carmesim),
Dona Hortênsia pesava cinqüenta e cinco quilos. Juiz municipal: Dona Hortênsia foi até sessenta e seis e meio.
Juiz de direito: Dona Hortênsia fez um esforço e alcançou setenta e nove.
Lista de merecimento: oitenta e cinco na balança da Estação da Luz diante de testemunhas.
Desembargador: noventa e quatro quilos novecentas e cinqüenta gramas.
E Dona Hortênsia prometia ainda. Mais uns sete quilos (talvez nem tanto) o desembargador está aí, está feito Ministro do Supremo Tribunal Federal. E se depois Dona Hortênsia num arranque supremo alargasse ainda mais as suas fronteiras nativas? Lamartine punha tudo nas mãos de Deus.
— Por que está olhando tanto para mim? Nunca me viu mais gorda?
— Verei ainda se a sorte não me for madrasta! Vou trabalhar.
A substância gorda como que diz: Às ordens.
Duas voltas na chave. A cadeira giratória geme sob o desembargador. Abre a pasta.
Tira o Diário Oficial. De dentro do Diário Oficial tira O Colibri. Abre O Colibri.
Molha o indicador na língua. E vira as páginas. Vai virando aceleradamente.
Sofreguidão. Enfim: CAIXA DE O COLIBRI. Na primeira coluna: nada.
Na segunda: nada. Na terceira: sim.
Bem embaixo: PAJEM ENAMORADO (São Paulo) - Muito chocho o terceto final do seu soneto SEGREDOS DA ALCOVA.
Anime-o e volte querendo.
Não?
Segunda gaveta à esquerda. No fundo. Cá está.
Então beijando o teu corpo formoso
Arquejo e palpito e suspiro e gemo
Na doce febre do divino gozo!
Chocho?
Releitura. Meditação (a pena no tinteiro). Primeira emenda: mordendo em lugar de beijando.
Chocho?
Declamação veemente. Segunda emenda: lebre ardente em lugar de doce febre.
Chocho?
Mais alma. Mais alma.
A imaginação vira as asas do moinho da poesia.
.....................................................................................................
77- PRELÚDIO
Bernardo Guimarães
Neste alaúde, que a saudade afina,
Apraz-me às vezes decantar lembranças
De um tempo mais ditoso;
De um tempo em que entre sonhos de ventura
Minha alma repousava adormecida
Nos braços da esperança.
Eu amo essas lembranças, como o cisne
Ama seu lago azul, ou como a pomba
Do bosque as sombras ama.
Eu amo essas lembranças; deixam n'alma
Um quê de vago e triste, que mitiga
Da vida os amargores.
Assim de um belo dia, que esvaiu-se,
Longo tempo nas margens do ocidente
Repousa a luz saudosa.
Eu amo essas lembranças; são grinaldas
Que o prazer desfolhou, murchas relíquias
De esplêndido festim;
Tristes flores sem viço! – mas um resto
Inda conservam do suave aroma
Que outrora enfeitiçou-nos.
Quando o presente corre árido e triste,
E no céu do porvir pairam sinistras
As nuvens da incerteza,
Só no passado doce abrigo achamos
E nos apraz fitar saudosos olhos
Na senda decorrida;
Assim de novo um pouco se respira
Uma aura das venturas já fruídas,
Assim revive ainda
O coração que angústias já murcharam,
Bem como a flor ceifada em vasos d'água
Revive alguns instantes.
.....................................................................................................
78- A LENDA DO NEGRINHO DO PASTOREIO
(Presente no sul do Brasil)
O Negrinho do Pastoreio é uma lenda meio africana meio cristã.
Muito contada no final do século passado pelos brasileiros que defendiam o fim da escravidão, é bastante popular no sul do Brasil.
Nos tempos da escravidão, havia um estancieiro malvado que perseguia negros e peões.
Num dia de inverno, fazia um frio de rachar e o fazendeiro mandou que um menino negro de quatorze anos fosse pastorear cavalos e potros recém-comprados. No final da tarde, quando o menino voltou, o estancieiro lhe disse que faltava um cavalo baio. Pegou o chicote e deu uma surra tão grande no menino que ele ficou sangrando.
‘‘Você vai me dar conta do baio, ou verá o que acontece’’, disse-lhe o malvado patrão. Aflito, ele foi à procura do animal.
Em pouco tempo, achou o baio pastando. Laçou-o, mas a corda se partiu e o cavalo fugiu de novo.
Na volta à estância, o patrão, ainda mais irritado, espancou o garoto e o amarrou, nu, sobre um formigueiro.
No dia seguinte, quando ele foi ver o estado de sua vítima, tomou um susto. O menino estava lá, mas de pé, com a pele lisa, sem nenhuma marca das chicotadas. Ao lado dele, estava a Virgem Nossa Senhora e mais adiante o baio e os outros cavalos. O estancieiro jogou-se ao chão pedindo perdão, mas o negrinho nada respondeu.
Apenas beijou a mão da Santa, montou no baio e partiu, conduzindo a tropilha.
.....................................................................................................
79- A LENDA DO SACI
(Em uma das versões do folclore brasileiro)
A lenda do saci data do fim do século XVIII. Durante a escravidão, as amas-secas e os caboclos-velhos assustavam as crianças com os relatos das travessuras dele. Seu nome no Brasil é de origem Tupi Guarani.
Em muitas regiões do Brasil, o saci é considerado um ser brincalhão enquanto que em outros lugares ele é visto como um ser maligno.
O saci é uma criança, um negrinho de uma perna só, que fuma um cachimbo e usa na cabeça uma carapuça vermelha que lhe dá poderes mágicos, como o de desaparecer e aparecer onde quiser. Existem três tipos de sacis: o Pererê, que é pretinho, o Trique, moreno e brincalhão, e o Saçurá, que tem olhos vermelhos.
Ele também se transforma numa ave chamada Matiaperê cujo assobio melancólico dificilmente se sabe de onde vem.
O saci adora fazer pequenas travessuras, como esconder brinquedos, soltar animais dos currais, derramar sal nas cozinhas, fazer tranças nas crinas dos cavalos etc. Diz a crença popular que dentro de todo redemoinho de vento existe um saci. Ele não atravessa córregos nem riachos.
Alguém perseguido por ele deve jogar cordas com nós em seu caminho, porque ele vai parar para desatar os nós e, assim, deixar que a pessoa fuja.
Diz a lenda que, se alguém jogar dentro do redemoinho um rosário de mato bento ou uma peneira, poderá capturar o saci e, se conseguir pegar sua carapuça, será recompensado com a realização de um desejo.
.....................................................................................................
80- A LENDA DO SURGIMENTO DA NOITE
(Em uma versão do folclore indígena brasileiro)
No começo do mundo só havia o dia. A noite estava adormecida nas profundezas do rio com Boiúna, cobra grande que era senhora do rio. A bela filha de Boiúna tinha se casado com um rapaz de um vilarejo nas margens do rio.
Seu marido, um jovem muito bonito, não entendia porque ela não queria dormir com ele. A filha de Boiúna respondia sempre:
- É porque ainda não é noite.
- Mas não existe noite. Somente dia! - ele respondia.
Até que um dia a moça lhe disse para buscar a noite na casa de sua mãe Boiúna.
Então, o jovem esposo mandou seus três fiéis amigos pegarem a noite nas profundezas do rio.
Boiúna entregou-lhes a noite dentro de um caroço de tucumã, como se fosse um presente para sua filha.
Os três amigos estavam carregando o tucumã quando começaram a ouvir barulho de sapinhos e grilos que cantam à noite.
Curiosos, resolveram abrir o tucumã para ver que barulho era aquele. Ao abri-la, a noite soltou-se e tomou conta de tudo.
De repente, escureceu.
A moça, em sua casa, percebeu o que os três amigos fizeram.
Então, decidiu separar a noite do dia, para que esses não se misturassem.
Pegou dois fios. Enrolou o primeiro, pintou-o de branco e disse:
- Tu serás cujubin, e cantarás sempre que a manhã vier raiando.
Dizendo isso, soltou o fio, que se transformou em pássaro e saiu voando.
Depois, pegou o outro fio, enrolou-o, jogou as cinzas da fogueira nele e disse:
- Tu serás a coruja, e cantarás sempre que a noite chegar.
Dizendo isso, soltou-o, e o pássaro saiu voando.
Então, todos os pássaros cantaram a seu tempo e o dia passou a ter dois períodos: manhã e noite.
.....................................................................................................
81- A LENDA DA MULA-SEM-CABEÇA
(Em uma das versões do folclore brasileiro)
Nos pequenos povoados ou cidades onde existam casas rodeando uma igreja, em noites escuras, pode haver aparições da Mula-Sem-Cabeça. Se alguém passar correndo diante de uma cruz à meia-noite, ela também aparece. Dizem que é uma mulher que namorou um padre e foi amaldiçoada.
Em toda passagem de quinta para sexta-feira, ela vai a uma encruzilhada e ali se transforma na besta.
Então, ela vai percorrer sete povoados, ao longo daquela noite e, se encontrar alguém, chupa seus olhos, unhas e dedos.
Apesar do nome “Mula-Sem-Cabeça”, na verdade, de acordo com quem já a viu, ela aparece como um animal inteiro, forte, lançando fogo pelas narinas e boca, onde tem freios de ferro.
Nas noites em que ela sai, ouve-se seu galope, acompanhado de longos relinchos.
Às vezes, parece chorar como se fosse uma pessoa. Ao ver a mula deve-se deitar de bruços no chão e esconder unhas e dentes para não ser atacado.
Se alguém, com muita coragem, tirar os freios de sua boca, o encanto será desfeito e a Mula-Sem-Cabeça voltará a ser gente, ficando para sempre livre da maldição que a castiga.
.....................................................................................................
82-
Dieter Roos
nada !
nada !
nada !
- e tudo
continua
.....................................................................................................
83-
Dieter Roos
se teus pensamentos
tornam-se duros
como vidro :
algum dia
eles se quebrarão
e tu
com eles
.....................................................................................................
84-
Dieter Roos
o que sou
é a soma daquilo
que fui
mais aquilo
que vou ser
.....................................................................................................
85-
Dieter Roos
des-cobrir
é tirar as cobertas
e colocá-las
noutro lugar
.....................................................................................................
86-
Dieter Roos
quem tem
nesse mundo da ciência
ainda a coragem
de ter uma
opinião própria ?
.....................................................................................................
87-
Dieter Roos
o nada ?
é somente
o não-saber
de algo
.....................................................................................................
88- A NOIVA
Humberto de Campos
Após um dia de trabalho intenso, consumido no manuseio de velhos volumes adquiridos nos alfarrabistas para uma obra de erudição, o poeta Silvestre de Morais vira desabrochar nas alturas, através da janela aberta, as primeiras estrelas daquela pesada noite de verão.
Fora, no jardim, as árvores repousavam, imóveis, como se rezassem, mudas, preparando-se para adormecer.
De espaço a espaço, um morcego cortava com a lâmina da asa o manto espesso da noite, como um pequenino aeroplano sinistro que se exercitasse, rápido, em funambulescos vôos de fantasia.
Com os dedos da mão esquerda mergulhados nos cabelos revoltos, o poeta lia, debruçado sobre o volume, à luz da lâmpada suavemente velada, aquelas histórias de fogo e de sangue, quando, de repente, os seus olhos contraíram diante de uma surpresa. Abaixou mais a cabeça, escancarou mais o livro, e viu: entre as duas páginas abertas, fulgia, como um risco de ouro, um fio de cabelo, brilhante, fino, quase imperceptível.
Encantado com a descoberta, o sonhador arrancou-o, com a ponta de um alfinete, do esconderijo em que o tempo o sepultara, estendeu-o, cuidadoso, ao comprido da página lida, e quedou-se a olhar aquela réstia de luz cristalizada, admirando-lhe a maciez, o brilho, a delicadeza.
- De onde teria vindo aquele misterioso raio de sol? Como teria caído ali, entre as páginas daquele volume de tragédias?
Que cabeça feminina se teria curvado sobre aquelas folhas tenebrosas que reviviam, passados tantos séculos, os mais terríveis dramas de amor?
Meditava assim o poeta, com os olhos fitos no faiscante fio de ouro, quando as suas pálpebras se cerraram, tocadas pelas mãos invisíveis do sono. E, como sempre acontece aos que sonham sem dormir, o sonho continuou, no sono, o encanto da realidade.
De olhos fechados, Silvestre de Morais continuava, por isso, a ver, como se os tivesse abertos, o dourado fio de seda.
Olhava-o e, não sabe como, via-o, aos poucos crescer, desdobrar-se, multiplicar-se.
Intrigado, fitou melhor o raiozinho fulgurante, e recuou, com espanto. Agora não era mais o livro, o que via: em lugar da página amarelecida, o que lhe aparecia, cortado pelo cabelo de ouro, era um rosto feminino muito pálido, muito triste, macerado, como o das monjas. Atentou melhor, e viu, mais detidamente: diante dele, olhos em lágrimas, cabelos de ouro esparsos pela fronte úmida, havia uma mulher, jovem e linda, que lhe pedia, as mãos estendidas:
- Meu senhor, eu venho buscar, convosco, a salvação da minha alma.
Há dois séculos espero, ansiosa, esta hora, este momento, o volver desta página, de que dependeu, até hoje, a minha felicidade.
O meu destino está, neste instante, nas vossas mãos. E, por Deus, seja generoso.
Atônito, maravilhado, sem compreender aquela aparição subitânea, Silvestre olhava, com a interrogação nas pupilas, a visão dolorosa, como a pedir-lhe, em silêncio, a explicação do mistério. Faces em lágrimas, olhos súplices, a moça adivinhou a sua inquietação, porque, de pronto, lhe explicou, estendendo para ele, como dois lírios de oratório, as mãos pequeninas e pálidas:
- Tende piedade do meu infortúnio, meu senhor! Para que servirá, tão humilde, entre vossos dedos, esse fio de cabelo?
Dai-me, pois me dareis, com ele, a minha salvação!
Insensibilizado pela surpresa e, não menos, pela graça triste daquela aflição infantil, o poeta quedou-se imóvel, sem uma palavra de recusa ou de assentimento. E foi diante da sua indecisão que a visão maravilhosa lhe contou, sem conter as lágrimas nem recolher as mãos de pétala murcha, a história da sua infelicidade e o segredo da sua angústia.
- Eu sou uma noiva que paga, meu senhor, num castigo que se eterniza, o tributo da sua ventura passageira.
Meu noivo era um poeta, como vós. Um dia, líamos os dois, como Paolo e Francesca, o livro que tendes na mão, quando um fio do meu cabelo voou, indiscreto, e pousou nos seus dedos. Galanteador e apaixonado, ele o levou aos lábios, beijou-o, e como nos chamassem do jardim onde líamos à claridade do crepúsculo, ele marcou, com o fio imprudente, a página do livro que nos encantava. No dia seguinte, porém, meu noivo adoeceu e morreu, sem que o visse.
Amedrontados com a sua morte repentina, os seus parentes dispersaram os seus móveis, as suas roupas, os seus livros, distribuindo-os pelos pobres. E, entre os volumes airados ao oceano do mundo, foi esse que se acha, hoje, em vosso poder.
- Continua... continua... - pediu o poeta, pálido, com tremores nas mãos tateantes.
- Anos depois - prosseguiu a visão, nervosa, aflita, precipitando as palavras.
- Anos depois, eu, por minha vez, morri e fui levada pelos anjos à presença de Deus misericordioso.
Era pura e na terra havia espalhado pelos humildes, pelos simples, pelos pobres, as flores do meu coração.
O Senhor fitou-me, porém, severo e perguntou onde estava um dos fios do meu cabelo.
E como lhe contasse que o perdera, ele me fulminou com a sentença terrível: eu só entraria na mansão do eterno repouso, da perfeita bem-aventurança, no dia em que voltasse com o fio desaparecido; porque nenhuma virgem é digna de viver entre os anjos, gozando as doçuras do paraíso, tendo deixado cair nas mãos de um homem um fio, que seja, do seu cabelo!
- E por que não te apoderaste dele há mais tempo?
- Não foi possível, meu senhor. Há quase duzentos anos eu acompanho a marcha deste livro.
Durante oitenta anos fiquei ao seu lado, em uma biblioteca, esperando que alguém o pedisse, o abrisse, libertando o fio do meu cabelo. Ninguém o pediu, ninguém o abriu, ninguém o leu. Atravessei com ele o mar.
Vi-o em várias mãos, sem que alguém, entretanto, folheasse a página de que dependia o meu destino.
Sois vós o primeiro. Se, pois, recusardes o que vos suplico, morrerá, para mim, a última esperança de paz e libertação!
E torcendo as mãozinhas murchas, pálidas, como duas flores de cera:
- Tende piedade, meu senhor! Dai-me o fio do meu cabelo!
Comovido, abalado pelo espetáculo daquela angústia, Silvestre estendeu-lhe, na ponta dos dedos, o raiozito de sol pedido com tanta sofreguidão, com tanta doçura, com tanta insistência, pela visão dolorida.
- Toma. Leva-o... - disse, entregando-lhe.
Com o vento fresco da madrugada, o poeta acordou. Olhou o livro aberto, pelo qual pousava, ainda espalmada, a mão emagrecida.
Procurou o fio de ouro, que vira marcando a página, antes de adormecer. Não o encontrou.
O vento, com certeza, o havia levado...
.....................................................................................................
89- MICROSCÓPIO
Humberto de Campos
Os salões do desembargador Marcelino Pedreira, à rua São Clemente, achavam-se repletos, como poucas vezes acontecia, naquela noite memorável. Políticos, magistrados, médicos, bacharéis, homens de letras e homens de negócios enchiam os grandes compartimentos do palacete magnífico, de mistura com o que há de mais fino, de mais chic, de mais distinto, nas rodas femininas do Rio. Lauro Müller, Miguel Couto, Pires do Rio, Antônio Azeredo, são silhuetas em evidência.
O encanto da reunião está, entretanto, na revoada de moças e senhoras que volteiam pelas salas, e entre as quais se destaca, pela formosura, pela mocidade, pela inocência do olhar e dos modos, Mademoiselle Júlia Petersen, noiva do Dr. Abelardo Moura e filha única do desembargador Feliciano Mendonça.
De repente, como se um punhado de folhas e flores obedecesse a um redemoinho invisível, faz-se uma roda em torno a uma das mesas da sala de chá. Homens de ciência e damas inteligentes formam o grupo.
Elevada, culta, a palestra versa os assuntos mais variados, encantando as senhoras.
Na sala contígua, dança-se. E, entre os pares, o Dr. Abelardo e a noiva. Súbito, parando, põem-se os dois a conversar:
— Que mãos tens tu, Julita! — elogia o noivo, maravilhado, apertando os dedos miúdos, finos, quase infantis, da sua prometida.
— Acha-a pequena? — indaga a moça.
— Microscópica!
— Como?
— Microscópica! — insiste o rapaz.
Intrigada com o vocábulo, que ouvia pela primeira vez, a moça pede licença por um instante, penetra no salão de chá e, com a sua ingenuidade, indaga do Dr. Álvaro Osório:
— Doutor, que significa “microscópico?”
— É um derivado de “microscópio”, Mademoiselle! — explica o ilustre fisiologista.
— E que é “microscópio”? — torna a menina, franzindo a testa morena, que os olhos iluminam.
O Dr. Álvaro medita um momento, e, para não perder tempo, explica:
— É um aparelho que faz as coisas crescerem. Compreende?
A menina sorri, agradecida. De repente, porém, pisca os olhos, franze mais a testa, e enrubescendo:
— Ahn!...
Morde o dedinho róseo, meio brejeira, meio encabulada:
— Sem vergonha! Agora é que eu compreendo porque é que ele diz que eu tenho a mão microscópica...
E sai correndo, vermelha, a abraçar-se com o noivo.
.....................................................................................................
90- OS RETIRANTES (Fragmento)
José do Patrocínio
Tinha acabado a missa conventual e só à tarde sairia a procissão de prece: a imagem da Senhora da Piedade no seu andor armado de damasco e festões de flores, carregado por virgens; o Cristo de lividez poética na sua cruz negra e desornada.
A população de B. V., pequena paróquia cearense, achava-se bem, como quem retesa os músculos depois de um pesadelo; espanejava-se num contentamento largo como um romper da alva. A maior parte dos paroquianos estava reunida a rir e a zombar e acentuava insistentemente o contraste entre o seu aspecto de hoje e o da véspera.
- Olé! - exclamavam uns para os outros. – Você a modo que ouviu o ronco dos guaíbas ou o zunzum da Itaquatiara?
A diferença era de fato enorme. Desde dezembro uma tristeza, densa como um nevoeiro, tinha empanado os espíritos ao verem a florescência dos cajueiros esperdiçada aos calores crus do estio. Nem um suor de tempestade embaciou a atmosfera, sempre de limpidez cristalina. Começou desta data a devoção solene, mas foi inteiramente vão o apelo para o céu diante da misantropia da natureza. Os dias secos e ardentes continuaram a devastar o gado, as plantações e as pastagens, ao passo que os rios e os açudes empobreciam como fidalgos pródigos.
Também as preces, em vez de levantar os ânimos, copiaram a desolação da terra e tornaram-se a ceva mística do desalento.
Quando as procissões recolhiam ao som das monodias religiosas, e extinguiam-se os archotes, e apagavam-se as velas dos altares, escureciam igualmente o templo e as consciências. A claridade elétrica do luar, caindo então sobre a comum tristeza, parecia o olhar esgazeado de miséria a magnetizar o povoado.
É que o pânico feriu, de improviso, a energia das populações de sudoeste, assim como a de toda a Província do Ceará.
Estatelavam todas ante a perspectiva hostil do futuro, numa resignação de faquir que se imola, e, como se tivessem um prurido de angústias, recontavam-se histórias de outras épocas horrorosamente calamitosas.
Demais, a superstição abriu logo as longas asas de corvo e pairou sobre os espíritos acovardados.
Um círculo alourado em torno da lua, a queda de um meteoro, as cores do crepúsculo, tudo foi considerado prenúncio da esperada desgraça.
O templo substituiu a consolação pela ameaça, a esperança pelo desconforto.
Assim é que o vigário Paula, conhecido até então como pouco severo, transformou a calma desleixada do seu olhar numa austeridade fria de juiz; o tom vulgar de suas práticas de outrora numa entoação cava de agouro.
As donzelas tiritavam o velo; a sua estola, roxa como o rebordo de uma chaga, e a sobrepeliz, alva como os cogumelos novos, lembravam-lhes o caixão e a mortalha, e a boca do sacerdote afigurava-se-lhes a entrada da cova inexorável.
A paróquia tornou-se um imenso beatério, que se angustiava profundamente ao ouvir explicado, com os pormenores da perversidade, um hieróglifo escrito na memória de todos por um missionário capuchinho. O vigário o repetia pausadamente:
- Em 77 muito rasto e pouco pasto; em 78 muito pasto e pouco rasto.
E explicava em seguida:
- É que haveis de fugir de vossas moradas, como a caça acuada, tendo horror ao próprio som das vossas pisadas.
A seca, porém, vos seguirá os passos como um cão destro, e para onde quer que fujais, lá encontrareis o desabrigo, a fome e a morte.
Estava-se já em princípios de março, e a fatalidade parecia ratificar a crueza de tais predições.
Do alto da colina, em que está a sede da paróquia, com suas casas esparsas pela extensão das ruas embrionárias e pelo contorno da praça; com a sua igreja caiada, sem torres, tendo um telheiro por campanário, viam-se os incalculáveis estragos do verão. Era um espetáculo solene e tristonho. A planície estendia-se amplamente, semelhante a uma cicatriz enorme no meio do verdor sadio das carnaubeiras novas e das grandes touceiras de mandacarus, cujos grupamentos de estolhos semelhavam-se a órgãos de esmeralda encravados na charneca. Os pequenos casais, que apareciam ao longe, com os seus tetos de palha, as suas paredes caiadas, e os currais de pau-a-pique, desertos e negros de estrume, recordavam outras tantas tendas da penúria. O rio Jaguaribe, perdida a abundância hibernal, estava reduzido a algumas poças.
As suas ribanceiras descobertas, altas como dois muros; o seu leito despido em vastas coroas de areia, amarelas como o âmbar, pareciam uma vala de cemitério, babando viva gula de cadáveres. Uma nuvem de urubus, que, dividindo-se e subdividindo-se, ora pousava nas capoeiras ou no solo, servia de outros tantos marcos à morte. É que o gado caía por centenas, como num matadouro, ou, faminto e sedento, cambaleava a fraqueza das suas ossadas a roer folhas mortas pela intensidade da canícula.
Foi, pois, com uma violência selvagem que, na véspera do outono, dia de São José, a alegria irrompeu do seio da paróquia.
O sertanejo não desarmou a rede nem arranjou o mocó para partir; vestiu-se de gala, porque o verão simulou chegar ao seu termo.
Fria e sombrosa madrugada quebrou a monotonia das auroras enfartadas de sol; uma bafagem úmida bruniu a copa empoeirada das árvores e cochichou nos capoeirões sussurros de temporal.
As nuvens obesas de chuveiros alegravam como a carranca mais feia na festa dos bobos,
e a paisagem tomou o ar descanoado do convalescente a respirar o ambiente oxigenado de uma hora, ainda úmida da rega matutina.
A igreja acompanhou-a na brusca mutação. Já não dobrava como por finados; os sinos, festivamente tangidos, entoavam uma aleluia àquelas vastas ruínas, e os seus repiques prolongados penetravam pelas casas com um ruído jovial de irmãos recém-chegados, sacudindo os sonolentos e acordando-os em sobressalto feliz. Também, à hora da missa, não se via uma população mesta e combalida, mas o povo com a sua alma sonora, enchendo as ruas e a praça de uma prazenteria anárquica.
.....................................................................................................
91- Abatido em pleno vôo
História de um médico que cumpria o juramento de Hipócrates
Sônia Sérgio
A porta se abriu e o Zé saiu andando em minha direção. Olhei para ele e percebi alguma coisa diferente no seu rosto. Havia algo errado. Chegando perto, ele disse: “Nossos planos mudaram um pouco. Não vamos à cidade comprar mochilas. Vamos esperar o resultado do exame. Deu uma complicadinha”.
“O que foi que aconteceu?”, perguntei.
“Deu ascite no abdome”, respondeu. Para mim uma incógnita. Para ele, preocupação.
“Ascite”, explicou-me, “é água produzida na parede abdominal por causa de alguma irritação. Significa que algo estranho está acontecendo. Pode ser tuberculose intestinal ou câncer”.
As quimioterapias haviam se iniciado. Ele perdera um pouco de peso, mas mantinha uma cor saudável, uma incrível disposição para tudo e um bom humor invejável. Em momento algum uma ponta de desespero ou tristeza passava em sua alma. Continuava levando a vida como se nada houvesse acontecido.
O Zé estava certo. O jeito como vê as coisas é simples, sem confusão e com o uso da razão. Ele é um otimista, enxerga a vida de outra forma, mais leve, numa outra ótica. Tudo para ele tem solução ou já está definido, é só compreender e tocar a vida. Ele sabe que só tem uma chance de recuperação – a cirurgia – por mais estúpida e agressiva que possa ser. O meu Zé não é homem pra fica na cama sofrendo, emagrecendo e esperando a morte chegar sem lutar ou brigar pelo seu direito à vida. Sabemos que pode morrer na cirurgia ou no pós-operatório, mas é melhor morrer assim do que ficar meses em sofrimento, acamado e se definhando.
A minha dor é só minha e só eu sei do seu tamanho. Não se mede a dor do outro porque não se sabe qual a medida a ser usada. A minha dor só eu a sinto, só eu a entendo, é a minha pertença. A dor do outro é dele e não tenho direito de julgá-la.
O que é grande ou o que é pequeno em questão de sentimentos? Falando-se de dor, como posso ter certeza que alguém sofre uma grande dor ou uma pequena dor?
É através do olhar, da expressão marcada, da maneira de vestir, de pentear os cabelos, de se expor como mártir diante das pessoas, de gemer ou de suspirar fundo, de lamentar, de chorar sem parar que se mede que uma pessoa está realmente sofrendo?
A dor para ser sentida não precisa necessariamente transparecer e explodir fora do corpo. Ela é vivenciada no fundo da alma, na parte mais íntima do ser, no âmago, e só a gente sabe onde esse fundo se encontra e o tamanho que ele tem.
Eu consegui transferir para as palavras escritas toda a minha dor. Tomei emprestada a caneta e as teclas do meu computador e os fiz instrumentos das minhas lágrimas, da minha solidão, do meu sentimento de abandono – como é triste ser abandonada!
Deixei que cada letra de cada palavra sugasse, absorvesse as ínfimas emoções que irradiavam da minha alma machucada. Como um filtro de papel elas separavam o que destrói do que constrói e foram retendo nas tramas urdidas das fibras, as tormentas, as tempestades, as misérias que se avolumaram no horizonte da minha esperança.
Lá fora, nas ruas, no asfalto que vi se esquentando, o tráfego é intenso, o vai e vem dos automóveis e ônibus se mistura com o vai e vem do povo, da mesmice do vendedor de balas, do camelô que anuncia um novo produto, do moço que sugere, aos berros, a compra de três picolés por um real, do pessoal que chega esbaforido ao hospital para uma consulta ou internamento.
Voto as minhas costas para a janela quente banhada pelo sol da manhã e encaminho novamente para o quarto. O dia continua.
Quando estamos internados num hospital, cada dia é um dia. Nunca se pensa em totalidade ou todos os dias, porque dia nenhum é igual a outro. Cada dia tem sua particularidade, acontecimentos inéditos, exames, resultados, notícias ruins e notícias boas, apreensões, surpresas. Todo dia é diferente e ao mesmo tempo todo dia é igual. Assim é a rotina de um hospital. Os exames de sangue eram feitos diariamente; raio x e a ultra-sonografia quando alguma coisa não ia bem e a luz de alerta era acionada na cabeça dos médicos. E apalpa, ausculta, mede pressão, olha a língua, os olhos, segura o pulso e presta atenção. Isto era rotina.
As horas vão passando lentamente, com preguiça, embaladas pelo imenso calor de outubro. A televisão é ligada para passar o tempo, mas desligada imediatamente porque nada há que preste para perder o tempo. Observo enjoada a pobre programação da manhã com culinária, entrevistas maçantes, desenhos animados idiotas (pobres crianças que têm de assisti-los). A programação da tarde repete a da manhã recheada de programas de auditório onde o assunto é de uma pobreza total sem pé nem cabeça. Será que estou exagerando, ficando seletiva?
A única opção interessante é caminhar pelos corredores compridos do hospital, duas ou três vezes seguidas e esperar que rostos diferentes surjam nas portas dos outros quartos. Pelo menos uma novidade a gente vai ter.
O dia vai passando nessa mesmice, sem visitas porque ainda estão proibidas e a noite vai apontando junto com a esperança que amanhã será um dia diferente, talvez com uma novidade, talvez com uma boa notícia, com uma surpresa, talvez... talvez... ai que saudade de casa!
.....................................................................................................
92-
Solidão
Yas
Mesa vazia, cadeira vazia...
Sorriso vazio sem nenhuma alegria,
Sonhos cheios de imagens sem nenhuma esperança.
Cabeça cheia da vaidade esquecida.
Morta como a flor mais linda do jardim.
Esquecida, escurecida, envelhecida, vencida pela dor.
Amor, sonhador de ilusões perdidas.
Cheio de um só sentimento puro, mas sincero.
Impero, espero já sem esperança, mas com a certeza da
beleza voltar a inspirar.
.....................................................................................................
93-
Solidão
Yas
Aspirar poeticamente a sua pureza, com as
Luzes acesas, sua foto sobre a mesa,
Não posso mais amar.
O pensamento de um erro não cometido
poderia me denunciar.
Lembranças de uma vida, de um sonho,
De uma realidade já extinta,
Sinta de onde estiver o que sinto e
Pressinto que vai chorar.
O som gradiente que repete o que sinto,
Músicas que falam de como vivo,
Vivo? É só me olhar.
.....................................................................................................
94-
Solidão
Yas
A luz brilha e no espelho nos vejo.
E a mente, como pôde a mente pregar-me essa
peça?
Essa crueldade.
Unir-nos por um segundo,
Um segundo de euforia,
de leveza, de alegria e após
Tristeza, dor, melancolia...
Mente ruim, pensamentos alterados,
não posso esquivar-me.
.....................................................................................................
95-
Solidão
Yas
Coisas pequenas, um broche com uma flor,
Ó amor!
Beijos lembrados e esquecidos
Já passados, mas vividos.
Liberdade para que, se eu quero me aprisionar a você?
Você que está presa e não pode se libertar.
No chão a garrafa caída,
A fraqueza do meu ser.
Como beber champanhe depois de ter bebido
vinho?
Como beber champanhe depois de ter bebido
vinho com você?
Comemorar seu sono com minha triste
vida.
.....................................................................................................
96-
ODE
Maysa Gomes
Ah, poesia!
Não quero resguardá-la
à sombra
de memoráveis grutas.
Ou tê-la somente
em surda melodia
nos excessos permitidos
do dia-dia.
Quero-a assim
tão livre, tão poesia
que possa cantar,
falar,
saborear,
palavra por palavra
verso por verso
rima por rima.
Não seja só poesia
seja universo
e clima.
.....................................................................................................
97- JOGO DE VERSOS
Maysa Gomes
Para cada verso
escrito no canto
de uma folha em branco,
um poema em cartaz.
.....................................................................................................
98- LEMINSKI
Maysa Gomes
Bico de pena
escrevendo
na areia da arena.
Árida de uma batalha
Sem fim.
Encanta os leões
E escapa de mim.
.....................................................................................................
99- ESSA NEM COGITEI; SEI
Maysa Gomes
Ir da ponta da faca
à ponta da estrela
Saltar
de Maria em Maria para Maria.
Traçar os tentáculos,
o corpo
e a venenosa cauda,
no céu, do escorpião.
Tentar outras constelações
num vôo ou viagem
sentir as perenes
insanas vibrações
no reverso da linguagem.
Anti verso do uni verso,
versátil,
artefato.
Um pouco de geléia
gás e Torquato.
.....................................................................................................
100- PASSAGEM
Maysa Gomes
A vida passa
a gente estuda.
A vida passa
a gente trabalha.
A vida passa
a gente brinca.
A gente passa
a vida fica.
.....................................................................................................
101- NÓ CEGO
Maysa Gomes
Você existe em mim
como um ponto
sem nó.
Oscilante entre os dias,
solto,
só.
Sejamos sempre
dois pontos:
sem nós.
.....................................................................................................
102- IDENTIDADE
Maysa Gomes
Como um deus inca
vaga perdido
pela úmida floresta
equatorial,
ou como a lua
embaralhada entre nuvens
se desvencilha
de diferentes formas.
É como quando
sinto pulsar o coração
entre as ondas
de um cauteloso mar
sem respostas.
.....................................................................................................
103- SALTO ALTO
Maysa Gomes
Passei,
pedi
pisei sem querer,
pulei
no rumo das andorinhas.
E obstinadamente
caí,
no árido destino
do teu deserto,
para te descobrir
este oásis macio.
.....................................................................................................
104- LEMBRETE
a Mário de Andrade
Maysa Gomes
Quando me ensinaram
que o verbo era intransitivo,
Esqueceram de lembrar
que o amor é substantivo,
muitas vezes abstrato.
.....................................................................................................
105-
Yas
Sinfonia que escuto, faz-me chorar
É normal, eu sei...
E sei também que quando estou sozinho
Outro a tem...
E eu o considero um rei.
Minhas paredes calam meus gemidos,
Um ser rebelde, desgraçado e só,
Elas escondem este homem triste
Essa triste dor que me transforma em pó.
.....................................................................................................
106-
Yas
Cantar antigamente me aliviava
a alma
Desta longa pena e pesada cruz.
Hoje quando canto,
Gemo sem calma,
Sou como uma ferida carregada
em pus.
.....................................................................................................
107-
Yas
Chegam-me no bar quando estou em uma mesa
Lindas mulheres que me sugam a vida,
E quando já não me sustento elas vão embora,
Eu esboço umas palavras:
-Mais uma bebida.
Um dia louco eu entrei em nosso quarto
E ao achar um lenço que deixou cair ao chão,
Peguei, e ao sentir seu perfume
Me fez bater descompassado o coração.
.....................................................................................................
108-
Yas
Ao lembrar que um dia tive vida,
Nos olhos luz, na alma paixão,
Hoje morto ainda respiro,
Trago olhos tristes,
Na alma escuridão.
Ser a sombra de tua vida é minha sina
Martirizado fico só a esperar,
Forte é a dor, tão grande é a ferida,
Que já é cantiga e não quer cicatrizar.
.............................................................................................................
109- NATAL
Olavo Bilac
Jesus nasceu. Na abóbada infinita
Soam cânticos vivos de alegria;
E toda a vida universal palpita
Dentro daquela pobre estrebaria...
Não houve sedas, nem cetins, nem rendas
No berço humilde em que nasceu Jesus...
Mas os pobres trouxeram oferendas
Para quem tinha de morrer na cruz.
Sobre a palha, risonho e iluminado
Pelo luar dos olhos de Maria,
Vede o Menino-Deus, que está cercado
Dos animais da pobre estrebaria.
Nasceu entre as pombas reluzentes;
Na humildade e na paz deste lugar,
Assim que abriu os olhos inocentes
Foi para os pobres seu primeiro olhar.
No entanto, os reis da terra, pecadores,
Seguindo a estrela que ao presepe os guia,
Vêm cobrir de perfumes e de flores
O chão da pobre estrebaria.
Sobem hinos de amor ao céu profundo;
Homens, Jesus nasceu! Natal! Natal!
Sobre esta palha está quem salva o mundo,
Quem ama os fracos, quem perdoa o mal.
Natal! Natal! Em toda a natureza
Há sorrisos e cantos, neste dia...
Salve o Deus da humildade e da pobreza
Nascido numa pobre estrebaria.
.....................................................................................................
110- ROTEIRO
Vinicius Fernandes Cardoso
Como fio d’água o tempo nos dedos,
da memória o afeto e o momento,
a falta faz a lagrima e a
rota monótona mata
por inteiro.
Pela manhã o mesmo espelho,
se almeja novo embora o mesmo,
da cama do quarto à casa,
desta rua e à máscara:
ao mesmo.
Monótono vazio e a tarde
alheia ao sujeito irradia
e a máquina do mundo
opera perfeita:
prédio.
Sem sal deita no leito
e o escuro no ser,
o sono e o sonho,
escuramente
silêncio.
Podia haver quimera,
surpresa, telefonema,
antes há o mesmo
afeto que falta:
roteiro.
.....................................................................................................
111- FLUXOS (FLASHES)
Nina Rosa Magnani
E eu quero mais
É estar
sintonizada
com os lírios
que ainda restam
nas praças empoeiradas
entre ônibus
fumaça
corações aflitos.
O amor por um fio.
Um pensamento esticado
no espaço.
O compromisso enorme
de um momento
de amor real,
fagulha
a queimar madrugadas
estilete afiado
no meu sorriso
incompleto
na minha mágoa contida.
.....................................................................................................
112- VERTENTE
Nina Rosa Magnani
VER-TE
ENTRE
AS LINHAS
DESTE
POEMA
ESCRITO SOBRE AS COLINAS
DA MINHA
INCOMPREENSÃO.
ENTRETANTO
VERDE
É O RUMO
DADO
PELO
CORAÇÃO,
QUE VERTE
PALAS
SEM SIGNIFICADO,
PURA
VIBRAÇÃO.
.....................................................................................................
113- DO PÃO MINEIRO
Nina Rosa Magnani
Deixar fermentar
as idéias
e a vida
ao sol
como essa montanha ao meu lado
(quase posso tocá-la com o dedo)
Antiquissimamente
Deixar-se embrenhar
emprenhar-se
dessas montanhas de minas
antigas
Ser revolvida
inchada
milenarmente...
Nada sempre existiu de instantâneo
Trabalhar com as mãos
os instantes
e a eternidade.
Aguardar ao sol
Que qualquer dia
arrebente
em trigo
e marcha.
.....................................................................................................
114- GOIABA
Nina Rosa Magnani
Eu quero
essa fruta
madura
e linda,
que me pertenceu
no justo momento
em que tocou
meu olhar
com sua plenitude.
Eu a escolho
como fui escolhida
para o seu querer.
Colho essa
fruta
madura
e gosto.
|