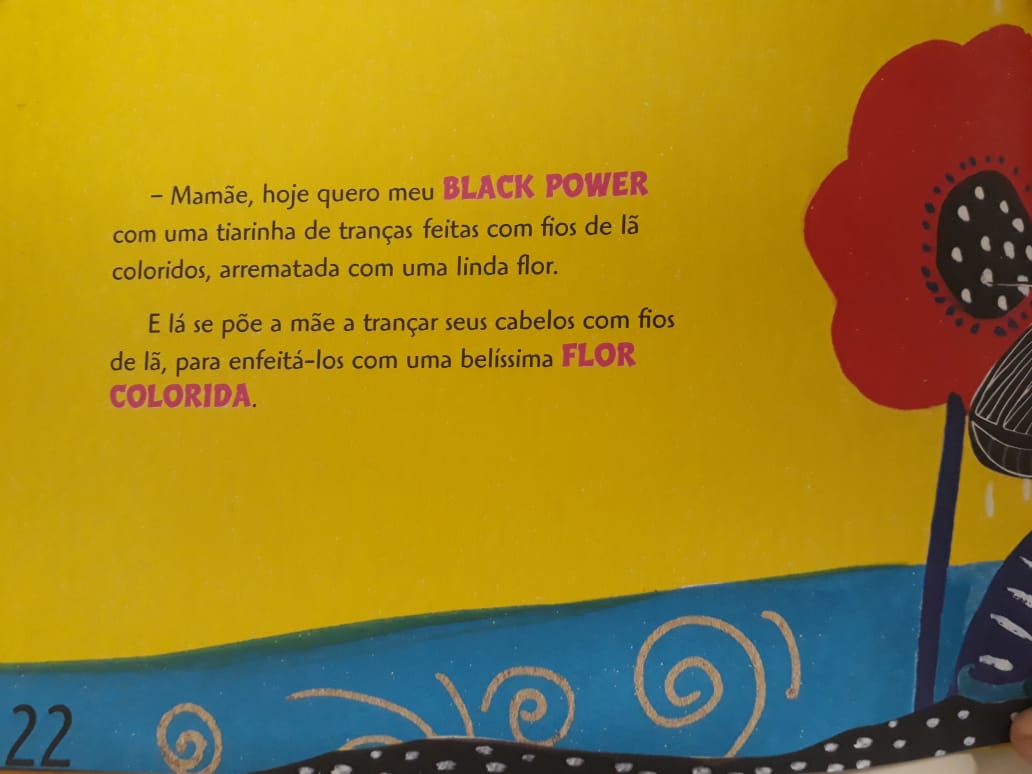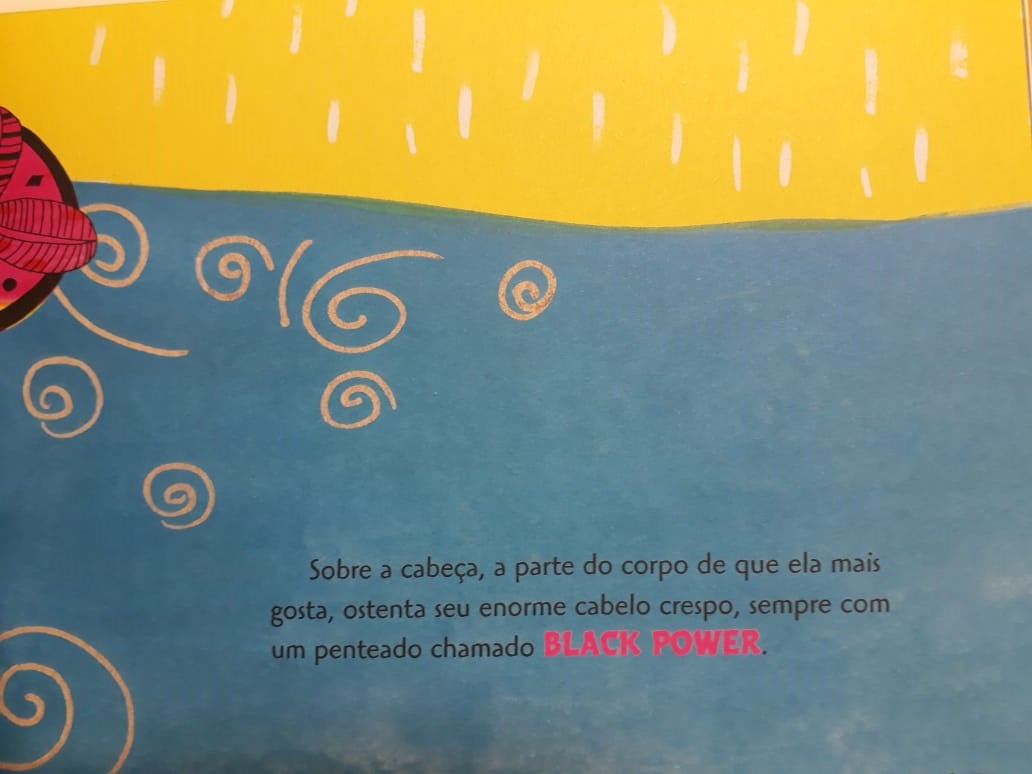Leda Martins: escrituras e evocações
por Guilherme Diniz
“Toda história é sempre
sua invenção
qualquer memória é sempre
um hiato no vazio.”
(Solstício, em Os dias anônimos)
Leda Maria Martins se manifesta pelas vias da palavra, em dicção detalhadamente vocalizada; do verbo modelado como expressão poética do pensamento; e de suas escrituras, irradiadoras de memórias e saberes. Pois, da teoria à poesia, do Reinado à academia, e do texto à performance, Leda Martins prefere se apresentar, sobretudo, como poeta; pensadora e inventora de linguagens.
Nascida no Rio de Janeiro, Leda sempre manteve uma indisfarçável afeição pelos estudos, presente desde a tenra idade, nutrindo precocemente suas inclinações poéticas. Com apenas quatro anos, aprendera a ler, e aos sete a paixão pelas letras já se plasmava em pequenos poemas, ensaiados pela curiosa menina:
Eu sempre gostei de estudar, acho que essa é a minha vocação. Desde criança o meu passatempo predileto eram livros, revistas em quadrinhos, lia o que caia na mão e tinha uma facilidade muito grande com escritura. (MARTINS, 2009, p. 73)
A despeito das agudas dificuldades socioeconômicas para prosseguir nos estudos, ao concluir seu segundo grau (ensino médio), Leda, apoiada pelo estímulo terno de sua mãe, resolve prestar vestibular para o curso de Letras, na UFMG, se desdobrando entre trabalho e estudo, de modo a se manter na academia.
O esmero acadêmico rendeu-lhe uma bolsa de estudos para realizar o mestrado em Artes, na Indiana University, de 1978 a 1981. A vivência nos Estados Unidos, como nos relata Leda Martins, acarretou um agudo amadurecimento intelectual e, principalmente, um radical processo de conscientização sociorracial, ao se deparar, no estrangeiro, com a fortíssima discriminação enfrentada pela população negra norte-americana. Embora sempre refletisse aqui no Brasil sobre as agruras experimentadas pelos negros, vivenciar o racismo nos Estados Unidos (país que mantinha constitucionalmente um regime de apartheid, pouco antes de sua viagem) intensificou visceralmente sua consciência.
Em seu mestrado, Leda Martins analisa minunciosamente a modernidade dramatúrgica de Qorpo-Santo, em seus aspectos constitutivos, formais e temáticos, investigando as numerosas qualidades textuais que fazem do autor sulino um vanguardista nos oitocentos. O resultado de sua pesquisa se condensa na obra O Moderno Teatro de Qorpo Santo, publicado em 1991. Em termos gerais, Leda examina, na dramaturgia Qorpo-santense, a reincidente fragmentação da estrutura narrativa, a desagregação da personagem – elaborada não mais nos moldes tradicionais de cariz realista-naturalista –, bem como os mecanismos e recursos empregados pelo autor para dar a ver a própria realidade artificial do teatro, de modo metalinguístico. No teatro de Qorpo-Santo a arte é a sua própria referência, desdobrando em si mesma, e nesse movimento a realidade que constrói nasce e morre em seu próprio universo arbitrário e ficcional. Ademais, a moral, as ideologias e condutas éticas, das personagens, são encenadas numa conjuntura ilusória atravessada por elementos derrisórios, ambíguos e irônicos, conforme Martins (1991).
Leda ratifica o parecer de outros estudiosos que associam a dramaturgia de Qorpo-Santo à estética do Absurdo, porém assevera que em muitos aspectos o dramaturgo brasileiro fora ainda mais radical nas suas criações, afirmando:
O espaço e o tempo sofrem também uma nova manipulação por parte do autor. Ambos perdem em suas peças qualquer dimensão lógica ou contato com a realidade objetiva. Sua coerência é sempre interna, transcendendo qualquer lei física ou linear de medida. A relação dos personagens com o tempo e espaço das peças só se torna possível no teatro que tem a teatralidade como um dos seus elementos fundamentais, através da qual a fantasia rompe todas as barreiras do impossível. (MARTINS, 1991, p. 66).
Nos Estados Unidos, Leda conhece uma obra que, como divisor de águas, marcará profundamente os rumos futuros de suas investigações acadêmicas, a saber, o livro Drama para negros e Prólogos para brancos, coletânea, organizada por Abdias Nascimento, de textos dramáticos escritos para o Teatro Experimental do Negro – TEN. É ela que nos conta: “Era a primeira vez que eu me defrontava com peças em que o negro era o tema central, era o protagonista. Isso era inusitado para mim, porque conhecia razoavelmente bem o teatro brasileiro.” (MARTINS, 2009, p. 75).
De volta ao Brasil, Leda é convidada a implantar o Curso de Letras na Universidade Federal de Ouro Preto, onde lecionará Literatura Brasileira e Teoria da Literatura, ao passo que assumirá igualmente cargos administrativos, especialmente, no âmbito artístico-cultural daquela instituição.
Leda Martins ingressa no doutoramento em 1987, na UFMG, materializando academicamente algumas de suas inquirições ao ler ávida e curiosamente, ainda no exterior, a trajetória cênico-política do Teatro Experimental do Negro. Leda investigará agora, de modo analiticamente comparativo, a formação do Teatro Negro (Black Drama) nos Estados Unidos e o percurso do TEN, no Brasil, traçando paralelos históricos, ao sublinhar as similitudes e as diferenças estético-discursivas nos dois contextos artísticos. A culminação de suas reflexões é a antológica obra: A Cena em Sombras, publicado em 1995. Tal livro ainda relevante nas discussões teatrais contemporâneas portou, aquando do seu lançamento, algumas novidades para a academia brasileira.
Em primeiro lugar, Leda Martins volta-se, com percuciência, para o arcabouço cultural negro-brasileiro, reconhecendo ali noções e perspectivas fulcrais para embasar a sua volição crítica do Teatro Negro estudado. A autora parte dos saberes e cosmovisões afro-diaspóricas para estruturar as suas meditações e leituras, recusando óticas etnocêntricas para apreciar tais teatralidades, e evocando uma outra gama de epistemologias, ainda hoje subalternizadas, em sua fundamentação teórico-crítica. A ressemantização do termo encruzilhada e das figurações mito-poéticas de Exu, são encarados no texto de Leda como princípios de cognição que traduzem, recriam e desvelam movimentos culturais, bases filosóficas e distintos modos operacionais de interpretação da realidade, construídos pelas simbologias africanas e afro-americanas.
Em segundo lugar, A Cena em Sombras inaugura uma narrativa historiográfica e crítica, a partir de outras perspectivas, sobre a experiência do Teatro Experimental do Negro. Embora Flora Sussekind e Miriam Garcia Mendes, para citarmos dois exemplos, tenham se versado sobre a iniciativa de Abdias Nascimento, será a partir da obra de Leda Martins que outros sentidos e conceituações sobre o Teatro Negro se concretizarão. Pois doravante este teatro será avistado na qualidade de linguagem, pensamento e formalização estética que promove rupturas com sistemas narrativos, imagéticos e criativos hegemonicamente eurocentrados. Assim, Leda apresenta seu objeto de análise:
Na construção de sua enunciação, nas metáforas cênicas arquitetadas e nos seus enunciados, o Teatro Negro, em suas mais ricas realizações, corrompe a figuração e a representação estereotípicas, deslocando-as pelo acréscimo de outras elaborações e fabulações possíveis. Esse teatro realça, assim, a diferença, como um traço distintivo que, nos vazios da semelhança, faz aflorar o eu e o outro, quebrando, ainda, a repetição dos papéis e dos discursos que sombreia a plural magia do palco. (MARTINS, 1995, p. 29).
Em sua perscrutação, Leda amplia as significações estético-culturais de tais teatralidades negras, salientando seu caráter polissêmico, multifocal, como configuração artística que reatualiza o manancial de memórias (coletivas e pessoais), as expressões rituais e as imagéticas sócio-históricas, cujas ressonâncias decompõem as representações emblemáticas também da brancura. (MARTINS, 1995). Ainda hoje, décadas após sua elaboração inicial, A Cena em Sombras é, por assim dizer, paradigmático no pensamento cênico afro-brasileiro; pedra angular de um vasto enfeixe de reflexões, leituras e análises a respeito do teatro negro, cujas bases teóricas estão, mesmo indiretamente, nos princípios críticos desenvolvidos por Leda Martins.
A autora nos narra que sempre encontra alguém, em suas andanças pelo Brasil, que tem o supracitado livro como referência, entre grupos teatrais e artistas em geral.
Ao ver-se doutora, em um país estruturalmente racista, Leda, segundo o seu relato, compreende, de modo diametral, a sistemática discriminação à qual a população negra está sujeita, nas diversas instâncias sociais de suas vidas. A conjuntura acadêmica, sobretudo em seus quadros docentes, reproduz as dinâmicas excludentes de inúmeros grupos historicamente marginalizados, solidificando aquilo que José Jorge de Carvalho (2006) denomina de “confinamento racial” no mundo acadêmico, isto é, a predominância, por vezes quase absoluta, de professores universitários brancos nas muitas instituições brasileiras. Vejamos as palavras de Leda Martins:
Em 91, eu era uma das raras professoras negras doutoras neste País. Quantas negras doutoras temos hoje? Eu sou um pouco responsável por isso. Eu sou uma das raras professoras negras dessa universidade [UFMG], como eu fui da Federal de Ouro Preto. (MARTINS, 2009, p. 77)
Na qualidade de chefe de departamento, na presidência de colegiados, membra do Conselho de Ensino e Pesquisa, integrante do Conselho Universitário, Coordenadora de Pós-Graduação em Letras (UFMG), membra de organizações nacionais e internacionais, de caráter acadêmico-político, pesquisadora do CNPQ, entre outras funções, Leda ressalta que a presença de sujeitos negros era fortemente escassa. (MARTINS, 2009)
Leda sempre ressalta a importância dos afetos familiares e comunitários em toda a sua trajetória. A ternura para com sua mãe, Alzira, a fez compreender amplas e profundas noções de espiritualidade, majestade e resiliência, segundo suas memórias nos revelam. A sua família, como nos conta, se constitui profusamente diversa, cultural e linguisticamente plural, em contextos conviviais matizados pela multiplicidade étnica. “Família pequena envolta em comunidades afetivas grandes”. (MARTINS, 2009, p. 80). Leda destaca duas determinantes instâncias culturais nas quais esteve imersa; fontes vivas de ancestral sapiência: o samba, adorado pela mãe, e o Reinado, na Irmandade Nossa Senhora do Rosário, em Jatobá, Minas Gerais. Atentemo-nos para as suas sensíveis recordações:
No congado, era a princesa Conga, agia como uma princesa, então nada podia me dobrar. Essa nobreza de caráter e de postura acho que me veio dessas duas comunidades. E a nobreza dos reis e rainhas do congado em Minas Gerais? Minha mãe se tornou rainha em 92. Foi rainha até 2005. Quando faleceu, a comunidade me chamou para assumir o cargo. Atualmente sou rainha de Nossa Senhora das Mercês. (MARTINS, 2009, p. 80)
O universo cosmológico, simbólico e sagrado dos Reinados Negros, em especial as ritualidades da Irmandade N.S. do Rosário, de intrincada riqueza litúrgica e mítica, são apresentados por Leda Martins, em Afrografias da Memória, publicado em 1997. Nesta obra, Leda conjuga, singularmente, o rigor investigativo de caráter arquivístico e documental; a fina sagacidade na coleta e análise de informações e memórias, por meio de entrevistas e depoimentos orais; bem como a maestria acadêmica na manipulação dos conceitos e termos teóricos a fim de elaborar uma densa narrativa de sujeitos, eventos e fábulas que traçam os contornos históricos das antiquíssimas linhagens congadeiras em Minas Gerais. Quiçá a mais marcante qualidade escritural deste livro resida em sua ímpar justaposição de agudeza reflexivo-conceitual e vivacidade poética na linguagem, de modo que as terminologias adotadas são postas como um elegante versejar, em que a beleza, na expressão do pensamento, intensifica a sua relevância teorética.
A encruzilhada, já introduzida em A Cena em Sombras, é por excelência, o grande operador conceitual, articulado por Leda, para compreender: os deslocamentos simbólicos matizados pelos Reinados, em que suas linguagens performáticas produzem sentidos móveis e dinâmicos; os processos trans e interculturais que subjazem as relações semióticas e discursivas entre as cosmovisões bantos/africanas e católicas/europeias; as especificidades históricas da formação espetacular, filosófica e social dos Reinados, para os quais a noção de sincretismo é insuficiente na apreensão de seus elementos culturais moventes e duplos.
Afrografias da Memória perspectiva os festejos dos Congados e dos Reinados Negros, como reterritorializações da filosofia bantu na diáspora, em que a vitalidade comunal africana, ao fissurar e imprimir seus valores simbólico-epistêmicos no espaço americano, desenvolveu estratégias culturais de enfrentamento ao sistema escravocrata dominante, assim como de continuação e renovação dos ritos matriciais no continente africano. Leda detalha cuidadosamente a complexa rede semântica elaborada pelos ritos, coreografias, cânticos, gestuais, línguas e elementos sagrados agenciados pelas festividades congadeiras cujas performances refazem, há séculos, as fábulas místicas, bases da comunidade.
Os Congados expressam muito do saber banto, que concebe o indivíduo como expressão de um cruzamento triádico: os ancestrais fundadores, as divindades e “outras existências sensíveis”, o grupo social e a série cultural. (MARTINS, 1997, p. 37).
As interrelações entre as performances rituais, a memória e as vocalidades vivificadas pelas corporeidades, nos Congados, são lidas por Leda em seu fundamental conceito de oralitura:
Aos atos de fala e de performance dos congadeiros denominei oralitura, matizando neste termo a singular inscrição do registro oral que, como littera, letra, grafa o sujeito no território narratário e enunciativo de uma nação, imprimindo, ainda, no neologismo, seu valor de litura, rasura da linguagem, alteração significante, constituinte da diferença e da alteridade dos sujeitos, da cultura e das suas representações simbólicas. (MARTINS, 1997, p. 21).
Nos meandros conceituais da oralitura, a oralidade, consubstancial a todos os âmbitos socioculturais dos Reinados Negros, ressignifica a memória, em movimento pendular, entre o recordar e o esquecer. As palavras cantadas, narradas, corporificadas presentificam os ancestrais, o indivíduo, sua coletividade e todo um espectro mítico e místico de saberes e sentidos. É pela dicção verbo-corporal que a comunidade se atualiza, encarnando as fábulas e histórias que as integra.
Leda relata que Afrografias da Memória é o seu livro mais amado, cujas reflexões e narrações despertam afetos em quem o lê. A obra, conforme nos conta, atinge os mais variegados perfis, faixas etárias e áreas do conhecimento, fora e dentro dos circuitos acadêmicos.
Nos anos 1998 e 1999, Leda Martins preside a comissão de Criação do Curso de Graduação em Artes Cênicas da UFMG e preside também a comissão Implantação do Curso de Graduação em Artes Cênicas (hoje denominado simplesmente Teatro), sendo a coordenadora do curso até agosto de 1999; fato este que inscreve, uma vez mais, a relevância inconteste de Leda no panorama artístico do país. Ela também será a primeira mulher a integrar a equipe de curadoria do Festival de Arte Negra, de Belo Horizonte.
Ao longo das décadas, Leda, em seu lastro profissional, acumula poemas e ensaios publicados no exterior, especialmente, Estados Unidos, França, Inglaterra e em países de língua espanhola. Em 95, para mencionar um significativo exemplo, Leda coedita o número 18 da prestigiada revista norte-americana Callaloo – dedicada singularmente às letras, às culturas e artes africanas e afro-diaspóricas – nesta edição, o periódico debruçou-se sobre os autores afro-brasileiros, tais como Cuti, Conceição Evaristo, Geni Guimarães, Miriam Alves, Oliveira Silveira, entre outros. A atividade como escritora e acadêmica se estende, paralelamente, aos trabalhos artísticos realizados no Brasil e nos Estados Unidos, sobretudo na qualidade de diretora, dramaturga e produtora teatral. Ademais, dois pós-doutorados em Nova York (1999-2000 e em 2009-2010), onde Leda foi professora visitante na New York University, aprofundaram os seus estudos na área da performance e promoveram importantes parcerias acadêmicas; uma das quais com a pesquisadora Diana Taylor.
Leda, no início dos anos 2000, apresenta uma de suas mais destacadas reflexões filosóficas, a partir das culturas e saberes africanos e afro-diaspóricos; concepção que ecoará ainda mais o seu nome nacional e internacionalmente: a noção de tempo espiralar:
(...) o tempo espiralar é uma percepção cósmica e filosófica que entrelaça, no mesmo circuito de significância, a ancestralidade e a morte. Nela o passado habita o presente e o futuro, o que faz com que os eventos, desvestidos de uma cronologia linear, estejam em processo de uma perene transformação e, concomitantemente, corelacionados. (MARTINS, 2000, p. 79).
Esta compreensão curvilínea do tempo está fundada, segundo Leda Martins, nas performances, nas práticas comunitárias e nos fundamentos cognitivos dos variegados grupos étnicos africanos que aqui recriaram seus laços de pertencimento telúrico, em especial, nas Américas. Principalmente nas culturas fincadas na oralidade e na cosmovisão ancestral, a exemplo dos Congados, as práticas performativas celebram o corpo como portal/lócus da memória:
(...) o gesto e a voz da ancestralidade encorpam o acontecimento presentificado, prefigurando o devir, numa concepção genealógica curvilínea, articulada pela performance. Nesta, o movimento coreográfico ocupa o espaço em círculos desdobrados, figurando a noção ex-cêntrica do tempo. (MARTINS, 2002, p. 86).
Em 2013, a Universidade da Califórnia, em Berkeley, organizara um vultoso simpósio internacional a partir do conceito de tempo-espiralar, pensado por artistas das mais diversas áreas, na produção contemporânea, atestando uma vez mais a amplitude teórica e a grande receptividade do conceito cunhado por Leda Martins. Ela nos diz que, embora inicialmente pensado para as artes cênicas, o termo alude a um modo diverso e possível do/no/sobre o tempo, pela via das manifestações culturais não ocidentais.
No ano de 2017, a escritora e pensadora é homenageada com a criação do Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras, em agradecimento afetuoso a uma vasta produção artística e intelectual que, investigando especialmente as formas e manifestações das culturas negras, desenvolveu marcos teóricos hoje imprescindíveis para valorizarmos e refletirmos sobre as histórias e as memórias das africanias diaspóricas.
Atualmente, Leda continua a refletir sobre as corporeidades nas dinâmicas estéticas do Teatro Contemporâneo, em palestras, colóquios e pesquisas. Uma de suas investigações correntes refere-se a uma definição conceitual que vem matizando para pensar as potencialidades, visualidades e agências do corpo em ação performática: o corpo tela. Neste ano, suas meditações acerca da noção de tempo-espiralar possivelmente será traduzida em alemão, como ela nos revelou em entrevista.
A POESIA
A produção poética afigura-se contumaz na carreira de Leda Martins, como um desejo e uma perquirição sobre as potências estéticas e demiúrgicas da palavra. Dois foram os livros de poesia publicados pela autora: Cantigas de Amares, em 1983; e Os Dias Anônimos, em 1999.
Em Cantigas de Amares, o amor e suas pungentes facetas, os afetos e os desejos íntimos povoam uma poeticidade deslizante, por onde atravessa pulsões de ordem sensual, como expressas em Cantiga 1:
Ai mia senhor, a lassidão me vence
E quero tuas mãos no meu torso nu
E tenho de teu tato a carência
Cia
E tenho de teus dedos a vontade solta.
(MARTINS, 1983)
Cantigas de Amares nasce também de um estudo investigativo rigoroso sobre as Cantigas medievais de amor e amigo, com as quais os poemas de Leda estabelecerão interlocuções textuais.
Já em Reflexos, há um jogo sensorial intrincado entre as corporeidades que figuram nos versos e a ânsia do prazer, marcados por uma espera agridoce daquele/a que pode vir a se tornar o/a amante. Os devaneios do corpo, transbordante de vontades e quereres desembocam, por vezes, num estado de espera.
O poema Interlúnio, por sua vez, apresenta outra perspectiva, não mais a espera, mas a recusa que se plasma em uma autoafirmação, num reconhecimento de si como alpha, ômega e zênite de suas próprias experiências:
No dia sem acaso
em que eu for minha
então me contemplarás
com tudo que tenho
de meu
Meu gesto terá a exatidão
do caule
que se curva nele mesmo
e minhas gotas
o gosto do vão
que se fecha
sem trevas.
(MARTINS, 1983, p. 8)
Em diversas outras composições poéticas, as paisagens se mesclam a delicados estados psicofísicos, às afetações; os espaços são sentidos, eivados de sentimentos. Há uma melancolia no movimento pendular entre a espera e a recusa, a aceitação e a negação. O movimento da separação é versificado em Jornada, no qual o eu-poético, cindido por incompletudes e vazios, despede-se, por entre os seus vãos emocionais.
Em Rimas é o próprio poema que se concentra no seu próprio poetar, a linguagem tecida contempla o seu processo mesmo de feitio, numa ótica discursivamente metalinguística. O esforço do eu-lírico em esculpir o poema, em dar-lhe a forma justa é intensificado nas estrofes, dramatizando o artíficie das letras diante de seu ofício, ao refletir acerca das complexidades rítmicas, vernaculares, emocionais e técnicas da sua criação:
Pelejo a palavra
latente
frutos germe
sedes
Abraço
uma rima
antiga
palavra desenho
emboscadas
Passeio
uma extensão
perdida
poema manhã
espaços
(MARTINS, 1983, p. 28)
Tanto em Cantigas de Amares, quanto em Os Dias Anônimos pululam diversas métricas e rítmicas na composição dos poemas, assim como o próprio modo de ocupação das estrofes na página, numa visualidade tipográfica que permite a presença densa dos vazios, da porosidade. Entre as ilhas de estrofes, a imensidão da página. As lacunas são sinédoques também dos afastamentos, dos espaços, solitudes e das próprias vacâncias dos moventes eu-líricos.
Os dias anônimos perfilam uma pluralidade de temáticas que abarcam os dilemas da memória, entre a rememoração e o oblívio; as pungências afetivas e amorosas; a sensualidade e os volteios desejosos do corpo; a experiência-pensamento do/sobre o tempo, em sua dimensão transformadora; as dinâmicas relacionais entre os amados ardentes que se acariciam. O título deste livro é inspirado, segundo Leda, na obra de Hesíodo – Os Trabalhos e os Dias.
Destacam-se os poemas Solstício, Mnemosine e Reminiscências por traçarem uma aguda interrelação, cada qual a seu modo entre os movimentos e as geografias da memória, e o vagar do tempo transformador. O eu-lírico em cada poema tem consciência das muitas ausências que habitam nos intervalos de suas memórias, das dores que a solidão lhe causa e dos resíduos pretéritos que só podem ser captados de modo fragmentado pela escritura. Observemos uma passagem de Mnemosine:
A memória da minha ausência
lembra os anciãos nas veredas das noites
luarando cantigas serenas
fazendo sonhar as meninas quase moças.
Eu não ouvi os últimos acordes
e não presenciei os suspiros
da infanta já feita senhora.
(MARTINS, 1999, p. 51)
Afirma-se uma forte vontade de amar, um afeto que se deseja pleno e não parcial, uma emoção que quer penetrar no âmago das coisas e não nas superficialidades frágeis; almeja, como condição para amar, a intensidade inteiriça, não a parcimônia repartida, como se vê em Sentimento:
Se te amo
amo
como quem ama
no granito
o volume,
no poema
a textura,
na alavanca
o impulso,
na melodia
o sussurro (...)
(MARTINS, 1999, p. 43)
Em uma saborosa conversa, Leda nos afirmou que o seu olhar sobre as coisas, sua relação com os seres e sua interpretação do mundo continuam sendo guiados e matizados pela poesia. A docência, em sua perspectiva, é também um exercício poético constante, pois a poesia não se imobiliza na escrita, ela continuamente afeta quem a leu e quem a escreveu. Em seus processos criativos, ela nos conta que seus textos se formam primeiramente como sons. A sonoridade, o ritmo e a musicalidade são os motores iniciais de sua construção poética.
Em síntese, a poesia é, para Leda Martins , uma evocação.
À guisa de conclusão e para nossa felicidade, Leda nos segredou que em breve um novo livro de poesias pode despontar no horizonte de sua escrita, cujo título temos o prazer em anunciar: Horas Sutis.
Referências
CARVALHO, José Jorge. O confinamento racial no mundo acadêmico brasileiro. In: Revista da USP, São Paulo, n. 68, p. 88-103, dez/jan/fev. 2005-2006.
MARTINS, Leda Maria. A cena em sombras. São Paulo: Perspectiva, 1995.
_______. Afrografias da memória. São Paulo: Perspectiva, Belo Horizonte: Mazza Edições, 1997.
_______. Cantigas de Amares. Belo Horizonte. Ed. do autor, 1983.
_______. Os dias anônimos. Rio de Janeiro: Editora Sette Letras, 1999.
_______. Oralitura da memória. In: FONSECA, M. N. S. (org.). Brasil afrobrasileiro. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. p. 61-86.
_______. Performances do tempo espiralar. In: RAVETTI, Graciela; ARBEX, Márcia (Orgs.). Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais. Belo Horizonte: Departamento de Letras Românicas, Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários, Faculdade de Letras, UFMG, 2002, p. 69-92.
_______. Profa. Leda Maria Martins. In: PRAXEDES, Vanda; et. al. (orgs.). Memórias e percursos de professores negros e negras na UFMG. Belo Horizonte: Autêntica Editora, Coleção Cultura Negra e Identidades. 2009.