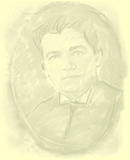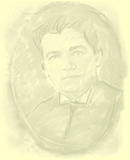|
1.
O autor planejara, como trabalho seguinte, um comentário,
pedisseqüente, ao Curso de Lingüística Geral,
de Saussure. Por falta de ensejo, não o pôde
reduzir a matéria legível. Tendo sido assim, volta
hoje, abusivamente, com algumas reflexões fundamentais.
A escusa que alega está em dizer que a perspectiva, sendo
nova, melhor se deixará ver com repetições,
a exemplo do que acontece quando se variam tomadas fotográficas
do mesmo objeto.
Da comprida insistência, renovadora de enfados,
apresenta aquela escusa de Pascal, ao desculpar-se de ter sido
mais longo por não ter tido tempo de se fazer mais curto.
2. FÁBULA
No princípio era o OBJETO. Havia o sol
o monte o rio a planta a ave o peixe o quadrúpede o
homínida. Mas eram coisas ainda sem nome, adhuc
sine nómine res, porque ainda não existia
o SUJEITO.
Um dia, na paciência genésica
das origens, dois homínidas começaram a manifestar,
pela voz, a representação de uma idéia.
Eram eles Primo e Secundo. Aí começaram a ter
nome o sol o monte o rio a planta a ave o peixe o quadrúpede.
E o homínida
se fez homem, et humo factus est, ao se fazer SUJEITO,
frente a frente com O OBJETO.
A esse objeto ele foi transformando em "reais",
internados no espírito, o seu espírito de Sujeito.
E esses reais eram repercussões dos procedimentos do
Objeto. E essas repercussões eram associáveis
a vozes com que a fala de Primo, dirigida a Secundo, foi sendo
capaz de veicular as imagens do Universo.
3.
Nasce o homem, não como Primo, o ser que
sabe, mas como Secundo, o ser que aprende. Como Secundo
vivencial, recebe a vida e, como Secundo
fabular, a notícia dela. Quando chega a Primo, já
está cheio de imagens feitas, cheio de um real não
seu, mas de seu clã.
No encontro direto com o Real, temos a Vivência.
Nos encontros com Primo, a convivência.
A Vivência implica reações
do ser fundamental, repercussões que atingem o homem biológico,
tingidas de matiz inefável. Coisas assim como as que devem
ter passado entre o poeta e a fera que lhe impedia subir a encosta:
al cominciar dell'erta... la vista che m'apparve dun leone.
Em horas assim, a máquina biológica
dispara energias de fuga, embora talvez reduzidas a apenas um
frêmito, quando Secundo, já condicionado, possui
recursos de reação aprendida.
Soma de vida e espírito, o homem não
é capaz de filtrar bem a Vivência, este circuito
repercussivo que se dá entre o Sujeito e o Objeto. Faltam-lhe
também ensejos de autonomia: chegado à idade de
consciência, chegado a homem, vê-se, por inevitável
condição, modelado à imagem do meio. Homem
isento, que ficasse imune à morfologia social, não
seria um homem, seria um bruto, sem consciência.
4.
Pode imaginar-se um homínida
emitindo sons, à hora teatral de seu encontro com o objeto,
sincronizando alguma reação de procedimento com
alguma espontânea reação vocal. Depois, no
tempo, sob efeitos de uma iteração socialmente cooperativa,
a reação vocal foi adquirindo capacidade veicular.
De emissão condicionada à presença
material do objeto, a emissão vocal foi passando
a signo condicionador da presença mental do
objeto.
Pela reação fabular, o homem iniciou
a sua via de hominização, desenvolvendo um segundo
sistema de estímulos: além de o provocar a coisa
presente (signo aderido), fez-se também provocável
à representação mental da coisa ausente (signo
liberado).
Na área da reação vocal em
presença da coisa, foi sendo criada a fala pragmática,
uma fala circunstancial e adjacente, parcamente fabular,
mais visual que auditiva, cheia de um procedimento mais teatral
que nocional. Era o começo, ainda inseguro, da intenção
de mostrar o que tinha no espírito, o primeiro exercício
de exprimir-se, interpretando o mundo.
Na área da reação fabular
sem a coisa presente, foi sendo criada a fala teórica,
a fala propriamente dita, a fala de um ser que cogita e move
no espírito as imagens do mundo.
5.
Na paciente marcha da subida, o exercício
da fala
teórica foi abrindo vias de seu enriquecimento. Entrando
em regime de motivação, ao proceder por semelhança
e contraste, a morfia fabular ganhou a linha de força da
analogia, sucessora da criação fonossêmica.
Superada a fonossemia, estava superada uma primeira fase, espontânea
e plástica, mas infiel e pobre, que tentava reproduzir,
articulada em sons, sugestões auditivas de objetos nomeados.
Com o exercício da fala teórica,
o progresso hominizante pôde insistir nas lembranças
tradicionais, ordenando vivências que eram distribuídas
na duração. Deste modo, e devagar, foi sendo
criado o espaço e o tempo, essas duas categorias subtis,
que ainda hoje escorregam subtis, entre dedos filo sóficos.
Não poderia caber, uma tal fecundidade,
na emergência fugaz da fala pragmática, sintonia
vital de um fazer cheio de procedimento e teatro. A hora da fala
pragmática é uma hora de estrutura infrafabular,
anterior ao molde constituído por sujeito e predicado.
É sinal dessa estrutura o que ainda hoje se reflete na
frase imperativa, que só tem predicado, e na frase expansiva
de certos moldes, que nem predicado tem.
Mas a fala teórica, vinda em hora de lazer,
pode gastar reflexão e estesia, ou no recordar de um feito
ou no planejar de um faciendo.
Finalmente, no dia em que se visualizou como fala
escrita, começou a estender pelos séculos o
diálogo da humanidade.
Veículo da reflexão, a fala
teórica hominizou o homem, repartindo os favores de
um entendimento que ela, se não cria, manifesta.
Redistribuindo os frutos de uma experiência
participada, ela ensejou a mudança de sentido, no sentido
da tensão entre Sujeito e Objeto (hominizacão).
Sobre homem não-aristotélico, de
Sujeito mal instalado e medroso, o Objeto exerce atrações
de simbiose, feito um centro de gravidade. O homem aristotélico,
porém, ao invés de sair para o Objeto, começou
a trazê-lo para dentro de si, elevando o Sujeito a centro
criador, onde o mundo, existindo por re presentação,
é pensado por reflexão e manifestado por fala.
Ordenando o Objeto, cujas forças naturais
servilizou, a humanidade conseguiu cultura, isto é, sibiliberação
progressiva. Só não tem conseguido mais civilização,
isto é, inteligência social, porque está atrasada
na ordenação do Sujeito.
6.
Poderia ter sido esta, a escala da ascensão
hominizante:
1. o a bimanização do quadrúmano,
favorecendo a autonomia dos membros anteriores, livre a mão
do homo faber para tactear a forma e a ductilidade
das coisas;
2.° a verticalização da postura,
ensejando a, visão horizontal, que tacteia longe o mundo,
e a redisposição craniana do cérebro, registro
das aferências sensíveis, internadas pela retina
do homem que olha, homo íntuens;
3.° a sintonização de idéias
e vozes condicionadas, veículo do comércio mental
e ocasião de socialidade
para o homem fabular, homo loquens.
7.
O dom fabular discriminou a espécie. O homem
progrediu porque aprendeu a manifestar-se. Não lhe bastariam
procedimentos como o dos brutos, cuja continuidade interior não
se mostra, razão por que lhes conhecemos a reação
vital, mas ignoramos a vivencial. Adstrita a
expansões instintivas, a vida irracional carece de expressão
liberada, para suas representações. Quando muito,
uma simbolização automática de procedimentos,
como os da abelha. Ao bruto, falta-lhe uma expressão socialmente
instituída. Falta-lhe o recurso fabular.
Quanto ao homem, transformou o real em objeto portátil
e meneável. Trocando a presença da coisa pela presença
mental do símbolo, ficou livre daquela servilidade aborrecida,
para os que vivem aqui-e-agora, sob a coação presencial
do estímulo aderido. Liberado o estímulo em representação
mental, em energia potencial, o homem foi descobrindo a economia
das respostas. A expressão fabular disciplinou o instinto
a inteligência a razão a consciência.
8.
A fala veicula representações, mas
só a vida as faz compreender. O entendimento inter-individual
não é de origem fabular mas de origem vivencial.
Secundo entende Primo, não pelo que diz mas pelo que
é, com a mesma inteligência com que entende um cão
ou qualquer irracional.
Mas a fala, se não cria, manifesta o entendimento.
Ganhou em energia reflexiva desde que transformou, em poder analógico
e simbólico, o poder mímico animal. Desde que trocou
o gesto de apontar no gesto de falar; o servil e estreito, condicionado
à presença, pelo serviçal e portátil,
veículo da ausência.
É de Cassirer a gradação que
vai de mímico a analógico e simbólico. Aceitamos
tal imaginação por acharmos que o homem deve ter
sido: primeiro, sensível e fonossêmico, repetidor
de sugestões auditivas; depois, expressivo e plástico,
desenhador fabular de intuições; finalmente, descobridor
de relações e ordenador do mundo.
Hegel já anunciara essa deveniência,
numa declaração que se traduziu bem ao francês:
"Ce que nous sommes nous le sommes devenus". O que somos,
nós o ficamos sendo.
9.
O homem, desde que nasce, vem banhado, como Secundo
vivente, nas repercussões do Real, e nas melodias da fala
materna, como Secundo
fabular. Inserto no Real que o rodeia e nutrido nos reais que
lhe transmitem, vai crescendo. Entre a função de
Secundo, em que nasce, e a de Primo, a que chega, medeia a digestão
espiritual da vida. É um ruminar de falas, que dilui e
destina os valores achados, transfeitos em valores veiculares
da fala ventura.
Esse ruminar contém atos de operação
vivencial; ou melhor não são atos de operação
mas atos de paciência, atos de vida infusa. Ocupado não
mais que no existir, alheio a plano ou previsão, chega
um dia em que Secundo
se vê Primo, ao se ver dono da habilidade fabular e dono
de uma filosofia da vida.
Difere, porém, desse ruminar espontâneo,
o cuidado de quem busca a posse racional da língua, através
de atos de operação, atos de consciência reflexiva,
no curioso e maduro esforço de superar a posse meramente
vivencial.
Quem estuda o patrimônio fabular imerge num
limbo de fantasmas potenciais, através de sutil anamnese.
Tal exercício requer plenitude homínica, plenitude
das faculdades aristotélicas. Empiricamente tentado, ao
longo de dois milênios, espera ele ainda melhor metódica,
pois ainda espera uma libertação que o salve da
mítica vocabulista.
10.
A fala é de Primo e a língua é
de Secundo.
Diz o Curso (de Saussure) que a fala existiu
primeiro e que a língua se aprende ouvindo,(p.37), mas
diz também, (p.1O5), que a sociedade só conhece
a língua como um todo hereditário, cuja origem não
se perquire.
[Nota do organizador: Curso é
o nome de que o Autor se vale - aqui e alhures - para se referir
à obra de Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique
Générale, Paris: Payot, 1960 / Tradução
brasileira: Curso de Lingüística Geral. São
Paulo: Cultrix, EDUSP, 196.]
Não tem sentido essa metódica renúncia,
que foi nociva à Escola Francesa. O assunto origens
era assunto vedado, estatutariamente, pela Société
de Linguistique de Paris; e dela fora secretário,
em 1882, Ferdinand de Saussure.
No positivismo do mestre, o enunciado língua
e fala tem sentido de precedência, haseado na observação
de que o indivíduo vem sempre depois da língua.
O preconceito de que a língua é social e a fala
é individual, fechando-lhe a boa via, deu em colheita de
enganos, quando apoiou conclusões nessa afirmação
da precedência, uma generalidade que devia refinar e reduzir
a seu termo. A verdade é que um indivíduo, portador
de língua, preexiste a outro, futuro portador, mas a língua
não pode preexistir ao indivíduo. A língua
do pai já existia antes da língua do filho, mas
essa não poderia existir antes deste. Se passou, como passa,
do pai ao filho, só passou a ser língua do filho
depois que este a criou no espírito,, vivencialmente, nutrindo-se
de tudo que nutre, em cada um, o seu Sujeito.
Além de não preexistir ao indivíduo,
a língua vem sempre depois da fala. Saussure o disse. Mas,
vendo o social na língua e o individual na fala, não
viu que a língua é um patrimônio socialmente
criado no indivíduo. Se houvesse reparado nisto, seu binômio
seria expresso na ordem natural - a fala e a língua.
Na verdade, preexiste o homem, com sua capacidade.
Preexiste Secundo, na geração menor, descendente
de Primo, na maior. Filtrando falas deste, cria o outro a sua
língua. A fala é de Primo e a língua é
de Secundo.
Quem desmonta falas ajunta língua. Não
a língua, essa vaga referência enganosa, mas a sua
língua. Nas falas se mostra a língua e nelas a tem
de ver o lingüista. A lingüística da língua
pela língua é uma falaz inversão do século
XIX, descobridor de externidade social, autogênese, autonomia,
sibi-sistência, não num ser mas num procedimento
ou recurso, internado na alma e no tempo do homem.
11.
A língua nasce da fala e a fala nasce como
outra fala, vazada no molde veicular da expressão. O estímulo
fabular é por frases. E não por palavras, como supõe
o Curso, (p. 28), ao iniciar o desenho do circuito fabular,
imaginando que um conceito dispara, no cérebro, a sua imagem
acústica.
Uma frase não é feita de vocábulos
associados, mas ao contrário: os vocábulos
é que foram feitos de frases dissociadas. Conceitos como
frase, palavra, sílaba, fonema, são concreções
de exame tardio, no esforço de tomar consciência
da língua. São frutos reflexivos de uma análise
homínica, passo de nível aristotélico, largamente
posterior à sedimentação fabular daquele
exercício que cria frases e não elementos. Muito
antes da consciência da língua está a língua,
um todo complexo mostrado nas falas, quando sai da boca, na hora
do dizer, o que nascera no espírito, à hora de ouvir.
Quem fala emprega estruturas feitas e não estruturas faciendas.
Refletindo em tais estruturas, tratadas por anatomia, a consciência
da língua nos revela que o sintagma se compõe, de
vocábulos e morfemas. Revela-nos, pois, que o vocábulo
saiu da frase e não a frase do vocábulo.
12.
O homem antigo deve ter sido um animal cerrado
sobre si, atento ao vital, escasso no vivencial, ativo no instintivo.
Imerso na circunstância do Objeto, devia ser um Sujeito
mal instalado e medroso. Ante os efeitos de um real ainda não
construido na consciência, era uma caixa de repercussões
inassimiladas, em cotidiano regime de "alteração",
dentro de um hic-nunc-ismo
estreitamente vizinho da irracionalidade.
Entretanto, na longa dieta
condicionante, socialmente vivida e fabularmente veiculada, foi
sedimentando-se na espécie a matéria de sua hominidade.
Primeiro atingiu a cota
pré-aristotélica, nível do homem
de razão folgada, um ser muito concreto e aditivo, inabstrato
e fantasioso, mítico e simpático. Sua teoria do
real não queria entender o Real mas somente propiciar aqueles
ocultos poderes que influem o bem e o mal, accessíveis
ao procedimento mágico, ao vigor de uma fórmula
bem recitada. A fala, sobretudo operatória, tinha dois
fins: inserir a vontade cotidiana (traduzida na voz dos mais velhos),
no jeito de fazer um faciendo; inserir os anseios do grupo nos
desígnios dos poderes sobre-humanos. Era uma fala
pragmática e simpática.
Na base desse homem anterior, carregado de vivências
mal refletidas, a intelecção helênica foi
modelando o tipo do homem aristotélico, o homem
de razão ativa, o homem que ordena o real com intuição
no objeto. Exibida em lúcidas levezas da fala teórica,
desenvolveu-se a cogitação filosófica. Desenvolvendo-se
o regime da fala escrita - essa mera visualização
da fala
teórica - foi ampliado o ensejo da transmissão
fabular, tornada capaz de vencer o espaço e o tempo.
13.
A fala coloquial, dirigida a Secundo
presente, é uma fala presencial.
A fala escrita, dirigida a Secundo
ausente, é uma fala ausencial.
A fala presencial, apoiada no favor das alusões
teatrais, das subvenções mímicas e tonais,
pode ser econômica no seu contexto fabular, despendendo
pouca língua. Ajuda-se de oportunidades, recorre a subentendidos,
vale-se de inteligências ocasionais.
A fala ausencial, privada de presenças,
reduzida à visualização do seu texto, obriga-se
ao dispêndio fabular, compensando com vozes, nos limites
do possível, a carência dos contextos teatral e mímico.
São estes os dois contextos da riqueza coloquial: no primeiro,
a interpresença de Primo e Secundo, a presença das
coisas, inclusive talvez a da coisa do assunto; no segundo, a
fala de corpo dos atores - o gesto (que sublinha ou dispensa a
palavra) a veicularidade semântica da melodia prolatória,
etc.
Projetando a virtude do milagre helênico
nas áreas do tempo mediterrâneo, a fala escrita fez
do latim o veículo da hominização
ocidental. Sem ela, a Europa teria ficado a vegetar na sibi-mesmice
rasteira do nível pré-aristotélico. Com ela,
a evolução confronta falas que vão de Rui
a Cícero. levanta estados de língua, arma planos
sincrônicos em que vai ordenando, no tempo e no espaço,
a perspectiva diacrônica. E a lingüística, balizando
áreas, evidenciando sucessões, estendendo a continuidade,
chega ao poder de configurar a imagem da língua indo-européia,
com quarenta séculos de comprovação ou indício.
14.
O ato fabular instalou sociedade entre Primo e
Secundo. Instituída a fala foi instituída a sociedade,
institutriz do homem, que ela nutre na reserva de suas imagens
e imaginações tradicionais.
Avalia-se o grau de hominidade
do indivíduo medindo-lhe, na superação do
biológico, a vantagem da sua cota
patrimonial, referida à cota
da plenitude social. Na ciclagem biológica do meio, está
um efeito que varia com a idade do indivíduo: infante,
criança, etc. Na cota
da plenitude social, vê-se o nível da energia espiritual,
a densidade plástica do esforço comum, na tarefa
de superar o cotidiano.
Através da transmissão fabular, Secundo,
quando chega a Primo, já está cheio de condicionamentos.
Sobre a consciência reflexa, que imerge na simbiose, a consciência
reflexão, uma superestrutura homínica, socialmente
constituída. Nela se representa o real de Primo. o real
fabular, um condicionamento de repercussões, uma certa
imagem do Real, não o Real em si. Este, o homem não
consegue definir. Mesmo o seu real, o seu mundo, não é
o homem que o define e sim a humanidade, na lenta filtragem das
lentas vivências.
15.
No ato verbal da comunicação está
a matéria da lingüística, pois da fala vem
a língua; ex fábula lingua. Essa translação
axial tem de ser feita, passando a lingüística a ser
fabular, em vez de ser vocabular. É tempo de a ciência
desprender-se do seu velho fisicismo
e dessa enganada primazia da língua. É tempo de
mudar a hierarquia, ordenando, como termos do binômio, a
fala e a língua.
Empenhado na verificação do real
e na riqueza de seu racionalismo empírico, o século
XIX se deixou absorver pela quantiação do universo
e da vida. Animado de progresso mecânico, embora sem melhor
progresso ético, pensou que estava chegando ao núcleo
do mistério.
Seu tepor racional influiu nocivamente na lingüística,
inspirando o evolucionismo de Scheicher bem como o neo fisicismo
de Leipzig. Aceitando nisto o fisicismo
helênico, a nova ciência continuou a tratar o vocábulo
como nome da coisa e como centro da língua,
conceituada esta como um dom natural, regido de leis suas,
leis mecânicas.
Armou-se aparência de um bom silogismo: se a língua
é um dom natural deve ser estudada como objeto natural.
Mas a língua não é um dom natural e sim criação
do homem.
16.
Conhecer é ordenar a representação
mental do objeto, aferencialmente internado no espírito.
Nos limites da aferência sensível, até o
animal homem o homem conhece, embora sem meios bons de conhecer
a pessoa homem. Conhece o homínida, o antropóide
básico e não conhece o homem. Vê
a máquina biológica mas não sabe que é
que faz do homem um homem.
Explicando o animal, a antropologia imaginou momentos
evolutivos como a estação vertical, a bimanização,
a transformação craniana, a sintonia
fabular.
Partindo do bímano ainda sem fala, ens
álalum, é de imaginar que só atingiu
o plano humano depois que aperfeiçoou sintonia
entre um signo fabular e uma imagem da coisa, passando de animal
expansivo a animal expressivo; o ens álalum
trocado em homo loquens.
Desde esse dia, o dom natural da linguagem,
exercido em falas, começou a frutificar em
língua. Foi sendo criado o que Pavlov chamou de
segundo sistema, sobreposto ao primeiro; neste, comumente biológico,
o animal reage ao estímulo da coisa presente (signo aderido);
naquele, o homem aprendeu a reagir ao símbolo mental da
coisa ausente (signo liberado).
17.
Após o início da habilidade fabular
(várias centenas de milênios) o homínida
alcançou, ontologicamente, o plano antrópico da
existência. O exercício entre Primo
e Secundo foi sedimentando patrimônio e a humanidade
foi criando a língua e a hominidade; a reação
biológica ao estímulo da coisa foi sendo aliviada
em reação ao símbolo da coisa; a emergência
vital da presentacão foi sendo melhorada em possibilidades
vivenciais de representação, noticiável em
falas.
Enquanto a experiência vital, biologicamente
peculiar e intransitiva, apenas admite contiguidade gregária
e mimicismo de procedimentos, a experiência vivencial é
um ensejo de criação de procedimentos,
uma promessa de lucro à sociedade. Em vez da resposta biológica,
primária, a variante sobrebioiógica, secundária.
Em vez da experiência reflexa, a experiência reflexiva,
com sua teoria dos procedimentos, fundida no cadinho das vivências.
Internada a repercussão do mundo no recinto
antrópico do eu, aí se foi ela ordenando, à
luz da consciência, em exercício de conhecimento.
Sobre a base comum, foi erguida uma estrutura espiritual. Sobre
o paléio-encéfalo desenvolveu-se o neo-encéfalo.
Surgiu dentro do homínida
a pessoa do homem.
18.
Absorvida na quantiação, a metódica
do século XIX olhou a menos a qualidade da tradição
filosófica, sonhando diluir a ética na fisiologia.
Dizia junto à mesa o anatomista: "Rebusquei o corpo,
escalpelando, e não achei a sede da alma". Entretanto,
mais discreto, confessava Du Bois-Raymond, em 1872, o nosso "ignorábimus".
Era uma declaração de quem não
via jeito de submeter o espiritual à aditividade quantiável
do mundo físico, numa ciência desarmada de escala
para a pessoa do homem, sua consciência, seu espírito.
A euforia da exatidão contaminou a lingüística,
posta em busca de métodos naturais e relações
físicas necessárias. Quis afirmar a lei, sob figura
de lei fonética, ao ver-se ante a espontânea transformação
prolatória do exercício articular, sob o limitado
acaso dos deslizamentos, no deslizamento dos talvegues fônicos.
Esse mau início naturalista impediu que
fosse vista a criação humana, o cunho intencional
moldado no espírito, no mundo interno da representação
e da vivência, laboratório de emoções
vontades e fantasias.
A única lei natural que rege a evolução
fônica está na lei da capacidade prolatória,
campo e limite do aparelho de fonação.
19.
Se conhecer é ordenar no espírito
o cognoscendo, isso quer dizer que existem dois campos - o campo
de fora e o campo da consciência, o campo do mundo e o campo
do homem. Fora, no campo do mundo, estão as coisas naturais,
capazes de repercutir sensoriamente, à hora dos encontros
vitais, no foro interno do homem, no engenho das vivências,
elaborador de representações mentais. Dentro, um
endocosmo
de repercussões elaboradas, a imagem vivencial dos reflexos
de fora.
Campo do homem, campo da consciência,
campo do eu, campo do Sujeito; campo do mundo, campo de fora,
campo do não-eu, campo do Objeto.
20.
A lingüística do século XIX,
querendo fazer de seu assunto objeto natural, não estava
preparada para duvidar se ele devia entrar no campo do Sujeito
ou do Objeto. A ciência geral ainda não se recompusera
do susto de haver imergido o homem na evolução.
Continuava espantada de o ver subindo, na escala zoológica,
em lugar de o ver descendo das mãos de Deus. Refocilando
um pouco no sadismo de se afirmar animal, de se reincluir no rebanho,
o homem esqueceu-se um pouco de que já era homem, ordenador
do mundo. Esta, pois, a razão de a lingüística
não haver duvidado: a metódica do século
não discriminara os dois campos. Tudo era matéria
e objeto. Não havia a ciência do Sujeito e a ciência
do Objeto.
Hoje, porém, meditando no assunto, o lingüista
pode ver que a língua não é, por exemplo,
um real biológico, esperando soma entre as coisas, mas
um valor mental, um recurso da expressão do homem. Não
é matéria nem corpo, mas sintoma de um procedimento.
Não é objeto de ciência física ou de
ciência biológica, mas de uma outra ciência,
muito atrasada ainda, a ciência do homem espiritual, a ciência
da pessoa do homem, a ciência do Sujeito.
Ser cognoscente, ordenador do Objeto, o Sujeito
pode também conhecer-se, ordenando-se e medindo-se, dentro
do homem biológico em que existe.
O homem biológico, base física do
Espírito, mede-se como objeto, pois é máquina
vital; mas o Espírito, que nele existe, mede-se como Sujeito,
ser cognoscente.
Medir um Sujeito é balancear-lhe as representações
mentais e as vivências. O mais grave é que nenhum
Sujeito pode medir bem outro Sujeito, pois só se pode medir
a si mesmo, por anamnese. Sobre o outro, fazemos atribuições
de analogia, mediante sinais do seu proceder e amostras do seu
exprimir-se. Isto fazemos, porém, avisados de que o homem
é um animal mentiroso, residualmente regido por impulsos
do disfarce biológico. Além do mais, algumas exibições
emergentes, do outro, estão longe de conter a imponderável
substância da sua continuidade vivencial.
21.
O jeito que o Sujeito tem de se
medir e pesar é pensando. O pensar é por frases.
A frase vem de um recurso expressivo chamado língua. Portanto,
a língua é recurso de um procedimento mental do
Sujeito.
Quem pensa ordena um mundo internado
no espírito, feito de repercussões do mundo de fora.
É assim que pode preparar uma atividade, planejando, num
procedimento vivencial, o venturo procedimento vital.
22.
A língua não é
um real integrável no mundo e sim um valor integrado na
consciência.
A fisiologia da fala, capitulo da biologia animal,
é serviço definitivamente secundário para
a lingüística. Não vamos dizer que o progresso
da fonética
foi inútil, pois que ela tem sua beleza e tem, sobretudo,
um vantajoso sentido didático. Infelizmente, porém,
ela não passou de hipertrofia metódica, fruto de
um pecado original. Um pecado que marcou o mecanicismo neogramático,
passou por Saussure, agravou-se em Trubetzkoi, e veio espraiar-se
no fonologismo de Copenhaga mais o fonemicismo dos antimentalistas.
O que a lingüística
salvou da falência está no seu incansável
trabalho de campo, sua formidável colheita de falas, seu
paciente exame de morfias, diacronicamente mostradas, na perspectiva
histórica. Pensando que ordenava "línguas",
ajuntou no celeiro um grande cabedal de "falas".
23.
A língua é um recurso criado
pela humanidade, paulatinamente enriquecido, ao longo da
vagarosa marcha hominizante. Amostra-se nas falas do homem, um
ser histórico por definição.
Quem interpreta falas interpreta o homem, visto
como Sujeito. Quem analisa falas filtra uma língua, patrimônio
de moldes e morfias que o tempo afeiçoa, em ritmo com a
energia espiritual do grupo.
Se vigora no grupo a mente aristotélica,
será grupo enriquecido no esforço de ordenar o real,
na preocupação do Objeto. Se tem mentalidade para-aristotélica,
será de gente mais recolhida sobre si, mais internada com
o Sujeito, como acontece entre orientais. Mas ainda existe o nível
pré-aristotélico, a mentalidade do nativo tribal,
homem de especificação retardada, com o Sujeito
ainda não desprendido do Objeto, submisso a uma agarrada
tradição oicológica e mítica, adjacente
às dimensões do aqui-e-agora, privado de imersão
histórica, o mesmo que não ter dimensibilidade espácio-temporal.
24.
Só o homem aristotélico
pode chegar ao nível do homem histórico, já
adiantado no caminho de se realizar, mediante o esforço
do que tem sido: uma expressão espacial em busca de
tradução temporal.
Por isso também, só
a língua do homem ocidental oferece imersão histórica,
imersão no tempo. Digo a língua e não as
línguas, referindo-me à língua indo-européia,
historicamente rastreável, sobretudo na linha mediterrânea,
em recessão de quarenta séculos, a partir dos atuais
dialetos até àquele entroncamento de convergências
que, já na área do homem sem história, ainda
apontam, como seta de sentido, à redução
metódica. Para trás, inescrutáveis, escondem-no
multimilênios de tradição fabular.
25.
A ciência da língua
é uma ciência do espírito. Interessa à
psicologia, pois a fala é um veículo da alma. Interessa
à sociologia, pois a fala socializou o homem. Interessa
à história, pois a fala é uma expressão
do homem, fazedor de história. Interessa finalmente à
filosofia, síntese de explicação do real,
feito de repercussões do Objeto no Sujeito, pois a fala
interior mostra ao homem tais vivências.
26.
Estrato homínico.
No seu plano elementar, a vida é feita de
automatismos biologicamente instalados no indivíduo, sob
dieta
de adaptação ao meio. Consta de predisposições
cíclicas, num teor de procedimentos hereditários
previamente perfeitos no seu alcance: vindo o estímulo,
vem a reação não aprendida. Um indivíduo
biológico não parece um ser que vive mas apenas
um mecanismo animado, um veículo da vida que nele existe
e nele se realiza, com um programa que é dela e não
dele, um programa que ascende, lento e longo, do protozóon
ao bípede reflexivo.
Confronte-se com a do inseto a memória do
homem. A memória do inseto é específica,
hereditária, acabada. Para o estímulo venturo, já
tem feita a resposta, cheia de virtualidade mecânica, pois
já está realizada, embora esperando realização.
Na memória do homem, porém, existe uma virtualidade
condicionada a realização realmente futura, mabilizável
na hora do estímulo, com reagentes vivenciais emergentes.
Prefigurar um procedimento do homem é coisa
que não cabe em esquemas exatos mas em áreas alargadas
por franjas de oscilação. O caso é como na
história daquele bispo francês, que era homem da
Igreja mas também homem da Corte. Nesta, um dia, o apertou
um outro cortesão com uma forte pergunta. Primeiro lhe
recitou São Mateus, 5.39, naquele passo em que Cristo manda
oferecer a face esquerda a quem haja golpeado a direita: si
quis te percússerit in déxteram maxillam tuam praebe
illi et álteram. Em seguida, perguntou àquele
cristão e bispo o que faria, se chegasse a tal situação
como a prevista no Evangelho. E este respondeu: "Sei o que
devia fazer mas não sei o que faria."
Na memória do homem, recamando o estrato
biológico dos condicionamentos vitais, cresce e pode crescer
o estrato social dos condicionamentos vivenciais. Sobre o plano
dos automáticos reflexos, está o plano da reflexão,
área das elaborações reminiscentes.
Em termos de vitalidade, o mundo é um estímulo
que atrai ou repele. Em termos de vivencialidade, faz-se Objeto
posto ante o Sujeito, como figura residual e causa graduada de
empatias, simpatias e antipatias ou, por outras palavras, de comunhão,
contacto e repulsa.
Como Secundo
vivencial, enquanto vai internando repercussões, o homem
vai também gerando o seu pathos individual. Como
Secundo
vivencial e fabular, elaborando representações,
vai gerando o seu ethos, espelhado na visão tradicional
que a sociedade lhe infunde. Assim a humanidade, num ritmo crepuscular
de ascensão, foi afeiçoando a sua hominidade, com
reflexos, no mundo de dentro, das repercussões do mundo
de fora. O homem vive desse mundo, instalado no plano do Eu, mas
em secreta simbiose
com o plano do Id. A transiente emoção primária
do seu pathos, ele devia sobrepor, como seguro regime,
o seu ethos, feito de beleza moral, infelizmente mal
entrevista e menos eficaz, pelo fato de a vida, caprichosamente
inconstitucional, insistir no conluio distribuindo com o Id os
poderes do Eu. Junto à pouca firmeza das imagens da consciência,
vige a mal discriminada franquia das imagens oníricas,
razão de o poeta afirmar que somos feitos de sonhos: We
are such stuff as dreams are made on. (The tempest, 4.156).
27.
Esse mundo configurado no espírito é
que entra na sintonia
fabular, com dupla representação: a de quem fala
e a de quem ouve. A imagem que Primo expõe, apenas se expondo,
não passa ao mundo interno de Secundo; não
chega até lá o alcance da fala emitida, mas só
até a porta do ouvido. Na fala emitida, o veiculado é
um sentido Primo. Na fala recebida, cede lugar ao sentido Secundo.
Por isso é que o ato fabular é apenas sintonia.
Emite mas não transmite.
Por isso também, o ato fabular tem de ser
posterior a alguma experiência que haja instalado, nos interlocutores,
a imagem sintonizável. É, pois, um ato revivencial.
Suponhamos que os interlocutores estejam mentando
um mesmo objeto, de ambos conhecido. Um cão por exemplo.
Embora do mesmo objeto, a sintonia
fabular conterá duas representações, a de
Primo e a de Secundo, anteriormente infundidas, cada uma em sua
vez, em atos individuais de vivência. No caso de Secundo
desconhecer o cão mentado por Primo, a sintonia
fabular perderá em dimensão e densidade, levando
Secundo
a supor, no lugar do cão mentado, um cão análogo.
Se Primo descrever bem o seu cão, Secundo
lhe poderá construir a imagem mental, a ponto de, no futuro,
o poder identificar, isto é, "re-conhecer". Isso,
não porque Primo o descrevera, e sim porque Secundo
tivera força de analogia, ao construir a imagem
mental. Caso lhe faltasse conveniente experiência analógica,
teria falhado a descrição e a sintonia.
O ato fabular é lamentavelmente imperfeito:
a fala recebida não tem as dimensões da fala emitida.
Secundo
acorre, não para a imagem de Primo e sim com a imagem de
Secundo. Felizmente para a sintonia, tais imagens podem ser muito
análogas, firmadas na iteração vivencial
do cotidiano.
28.
A fala é uma expressão
do homem, não do mundo: traduz a repercussão e não
a coisa. Nem nomeia a coisa, mas imagem dela.
Essa imagem da coisa é imagem
múltipla, repercutida em milhões, tempo em fora.
Imagem recamada, pacientemente tradicional, serviço de
muitos Primos em muitos séculos.
Essa imagem tradicional é repercussão
de um Objeto que existe e persiste, lá na sua lei e feição,
enquanto vai mudando ante ele o Sujeito, este fruto vivencial
que o tempo sazona, incerto e lento, com seiva de hominidade.
Ilustremos a idéia com um exemplo. Se a
mesma sinfonia de Beethoven, no mesmo disco enfadonho ao primeiro
ouvir, começa a fazer-se arrebatadora com a enésima
audição, não foi, de certo, o Objeto que
mudou.
Vejamos outro exemplo. Nas "Histórias
da terra mineira", leitura escolar da infância de há
meio século, havia a história daquele vindiço
que, no arraial do Tejuco, hospedado por uma família, aí
se encontrou sujeito, após o jantar, à inesperada
fortuna de ver jogar-se um gamão cujos tentos eram certas
pedrinhas mui brilhantes, amontoadas entre os parceiros, displicentemente.
Tentado de tais tentos, mas disfarçando, pediu-os de presente.
O dono da casa, imaginando ser alguma leve mania de viajor, fez
dação à mancheia locupletando uma cobiça
que anoiteceu ali mas não amanheceu, tendo madrugado à
francesa, pela janela.
Tal proceder, não de hospes mas
de hostis, mostra que tinham estado, ante o mesmo Objeto,
e por mudança do Sujeito, dois sujeitos diversos: um tejucano
que via pedrinhas e um aventureiro, a cujos olhos faiscavam, vivos,
os diamantes.
29.
Mediante a sintonia
fabular, o homem aprendeu a manifestar-se, progredindo em hominidade,
trocando por socialidade a velha gregariedade animal.
Através de um exercício multimilenar,
filtrou espontaneamente, das falas passadas, o recurso da fala
ventura.
Esse filtrar de falas, extraindo língua
desde a infância, devagar, foi trabalho paciente, através
das gerações, através dos tempos, na marcha
para cima. Labor teimoso de hominidade, não podia ser tarefa
de um momento ou de um grupo. Quem quiser imaginar o que custou
imagine a distância que veio intercedendo entre a fosca
sensação de um pitecantropo e a clara expressão
mental de um Demóstenes.
Tudo isso passou dentro do homem, no plano
vivencial do espírito, acima do plano meramente biológico,
por graça e milagre da sintonia
fabular.
Na base do ser humano está o animal que
reage a estímulos vitais do primeiro sistema. Essa reação,
entretanto, foi sendo recondicionada e melhorada, por força
do segundo sistema - a reação ao símbolo
da coisa. O irracional, servo do meio, a ele se adapta ou desaparece.
O homem, senhor do meio, a si o adapta ou o anula. Vivendo no
mundo de fora, ele vive do mundo de dentro.
30.
A língua é um patrimônio, filtrado
de falas, que serve a falas. É um patrimônio de valores
internados no espírito, junto aos conceitos, em socialidade,
isto é, capazes de se associarem, para o ato fabular, quando
saem juntos, em forma de frases. Em estado de língua, o
elemento é um valor potencial, capaz de veicular. Em estado
de fala, faz-se atual, veiculando efetivamente. O elemento na
língua é uma lembrança. Na fala, um valor
da expressão.
31.
Associando conceitos com signos fabulares, o homem,
vivendo no mundo de fora, aprendeu a viver do mundo de dentro,
o seu endocosmo.
O veículo da configuração
endocósmica é a fala. Ter idéias é
pensar e pensar é falar. É um falar que
não se manifesta, um falar consigo mesmo, ora reflexivo
e dirigido, ora espontâneo e sibi-dirigido, fluindo em curso
despercebido e contínuo, macio e surdo, isento ao vigiar
da consciência.
Entretanto, fala que mereça o nome é
a fala social, a fala que abre sintonia
entre Primo e Secundo, fala em que a este se mostra a língua
daquele. Se não houvesse fala, não haveria jeito
de a língua se mostrar.
Esse poder manifestar-se por fala é peculiar
do homem. Falta, no bruto, a riqueza simbólica. Somente
o homem, capitalizando lucros, armou a simbolização
fabular, e roteou sob o crânio a carta do neo-encéfalo
- esta espécie de segundo pavimento e planta do espírito.
Aí mora a capacidade fabular e a língua, obreira
eficiente da especificação hominizante.
32.
A lingüística tentou grave injustiça,
ao querer extraditar e deduzir a língua ao pavimento inferior.
E enganou-se ao querer distribuir ao campo do Objeto o que pertence
ao campo do Sujeito, o campo do homem como pessoa.
A língua é um recurso da fala e a
fala, expressão do homem, é coisa do próprio
homem. Ela tem de ser estudada por auto-análise, por
exame do espirito sobre si mesmo, num exercício especular
em que o Sujeito se faz objeto e reflexo do juízo que busca.
Mesmo a língua de quem nos fala tem de ser estudada não
em si, mas em nós, por transferência analógica.
Não em si ou em quem fala, mas no foro de análise
que é o nosso foro mental. Aí se examina e classifica:
a fala, quem fala, e a língua de quem fala, sendo às
vezes não menor trabalho o trabalho de ajustar sentido
entre o modo de ser e o modo de dizer, entre o jeito do homem
e a sua fala, a sua imagem de alma.
33.
No pavimento térreo, planta biológica,
fica o aparelho de fonação, de importância
lingüisticamente adjetiva. Quando ele reage automaticamente,
como em voz de susto, isso é coisa do primeiro sistema.
Entretanto, se funciona com intenção fabular, então
recebe comando de um centro colocado no segundo pavimento.
O aparelho de fonação funciona bem,
mesmo para quem não o entende, parecido nisso a um telefone.
Estudá-lo é um exercício da tranqüilidade
cognoscitiva, ou da vantagem didática, mas não
é um exercício de lingüística.
É um aparelho que já vem feito, embora
não predestinado à fonação fabular.
Exercitado em tempo, que é desde a primeira infância,
adapta-se aos talvegues fônicos de qualquer língua.
Só funciona em correspondência com
o aparelho auditivo, prova de que a língua vem depois da
fala. Um surdo-mudo é mudo não por incapacidade
prolatória mas por inércia: no seu tempo de receber
a língua, esta não lhe pode entrar pelos ouvidos,
emitida em falas dos outros. Sem fala ouvida não há
língua recebida. Até menino de seis anos, que já
falava, se fica surdo, acaba involvendo e ficando mudo, se não
o educam.
Uma vez adestrado, o aparelho de fonação
ganha habilidade espontânea, marcado de invisíveis
talvegues fônicos, por onde flui a fala nativa, ainda que
feita de sons que pareçam difíceis para bocas aloglotas.
A posse fônica de uma língua é cheia de ciúme
exclusivista: um aparelho já ocupado reage negativamente
às solicitações de prolação
não vernácula. Por ser de ocupação
não madura, o da criança reage menos que o do adulto.
34.
A idéia da adestração prolatória,
criadora de tal vegues fônicos, vem ligar-se a idéia
da evolução fabular. Evolvendo a fala,
evolvem as morfias da língua. Anote-se bem: evolução
das morfias da língua e não das línguas.
Só a imersão temporal dá sentido
à lingüística e só a língua indo-européia
lhe tem fornecido matéria bastante, por ser um patrimônio
fabular de socialidade
historicamente classificável.
Na área do espaço, a lingüística
pode recensear estados de língua, mas um estado de língua
não é a língua. Num inquérito horizontal
(sincrônico) pode arrolar-se o patrimônio vigente,
suponhamos da língua portuguesa (denominação
não técnica). Mas será uma resenha imperfeita:
primeiro, porque não se pode esvaziar o conteúdo
fabular de cada indivíduo; segundo, porque não se
pode nivelar as diferenças individuais. O patrimônio,
além de não ser constante nem homogêneo em
cada um, não é igual em todos. A posse fabular será
boa em Caio e ruim em Tício; superficial em Mário,
adstrito ao cotidiano, e profunda em Lúcio, observador
da tradição, esmiuçador do passado, ledor
dos mestres a quem retoma, para a luz, valores esquecidos ou mudados...
Como explicar, fora do tempo, o atual dos dialetos ocidentais,
de patrimônio sempre refundido, a partir do Renascimento,
sob largas injeções de grego e latim?
35.
Para a lingüística, não chega
recensear um estado de língua. A fim de entender o hoje,
sucessão do ontem, cumpre receder no tempo, sotopondo estados.
Na origem de nosso patrimônio,
plurifracionado em dialetos que cobrem o mapa, está a língua
indo-européia, historicamente rastreável, submissível
a uma síntese de panorâmicas abrangências.
Basta seguir a costura diacrônica
das sucessões, rotear estados, marcar linhas dialetais
e demarcar interferências.
36.
Diz-se que a língua é um sistema
de sinais. É uma definição que, sendo genérica,
paga juros ao vício de se definir a língua por um
conjunto de vocábulos, apesar de ela ser muito mais, pois
é um acervo numeroso de moldes.
Também se diz que a língua é
o sistema peculiar à fala de um povo: a língua portuguesa,
a francesa, a latina. Esse definir prendeu a idéia "língua"
às contingências da contingência grupal, dentro
de um seclusismo sem realidade e um pluralismo sem conteúdo.
O português, o francês e o latim não são
três línguas mas três dialetos, três
estados de língua da língua indo-européia.
Eliminando-se o conceito "línguas"
em favor do conceito "língua", até a fraternidade
se favorece: em vez de se travar nos particularismos grupais,
poderá nutrir-se no sentimento da continuidade da espécie,
vista na continuidade do patrimônio fabular.
37.
Na carta histórica dos dialetos pode vir,
junto à perspectiva das morfias, o sentido evolutivo da
mudança e o sentido interferente das mutações,
fruto de horas traumáticas. Dentro da lição
geral, vige a constância da economia prolatória ou
mecânica, em coordenação com a economia fabulatória
ou psíquica. Além disto, frutos da condição
humana, surgem os distúrbios parasitários do engano
e da fantasia, hóspedes intromissivos, no rápido
espaço entre a boca de Primo e o ouvido de Secundo. Finalmente,
acima, dominante, em permanente exercício, reina a lei
da analogia, princípio e força da criação
imaginal e das figurações plásticas do espírito.
Por analogia
é que a língua cresce, inclusive na recepção
mutuária das aculturações, quando o dialeto,
abalado o nível da estabilidade, recebe externos contágios,
porta e ensejo de mutações.
38.
Ex fábula lingua.
Inserido nas leis da vida pelo plano biológico,
o homem o superou com o seu plano espiritual, criando a sua estrutura
de homem histórico, instalando um maquinista na máquina
de vida que é o animal.
Em presença da coisa, que tem preso um sentido,
reage o bruto. Mas o homem, sofreando reações internadas
e liberando o sentido, aprendeu a reagir, para além do
sentido presencial, também ao sentido da representação.
Em presença, da coisa, dois irracionais
podem sintonizar uma reação. Dois racionais, mesmo
na ausência, podem trocar inteligência, veiculada
em signos fabulares. É a comunicação mental
de que só o homem é capaz. Para isso forjou a lingua.
Primeiro o signo vocal se emitia expansivo, envolvido no contexto
presencial; depois, foi desprendendo-se da presença, liberado
por replenação
vivencial, que encheu de "representação"
a sintonia
fisiológica das emissões. Vozes veiculares,
intercambiais, fizeram-se valores fiduciários da comunicação.
A fala criou a língua.
39.
Na transmissão
social está o recurso da integração social
do indivíduo, que por ela recebe as idéias e dela
filtra a língua, um patrimônio marcado de necessidade
dialetal, visto ser expressão do que muda, no tempo e no
espaço. Está sempre possível a forma seguinte
ou o seguinte sentido, numa constante urgência metamórfica
e metassêmica. Não há normas para o ritmo
da mudança. Temperando a imprevisibilidade, funcionam efeitos,
ora da ilhagem espacial, com distanciamentos étnicos, ora
de precipitações sociais. A sensibilidade à
diferença admite séculos de perspectiva, entre os
momentos do dialeto, que ora vige e fulge, na plenitude, ora senesce
e mirra, em decadência; segue às vezes e persiste,
sob a misericórdia dos fados, ou cede à invasão
e desaparece, como foi, na expansão romana do latim, com
falares itálicos e célticos.
40.
Ante nossos olhos, a língua é sempre
anterior ao indivíduo, que a recebe nas falas do clã.
Passa, tradicional, do homem feito, geração docente,
ao homem que se faz, geração discente. Começa
na sociedade familiar e continua na sociedade nacional. Primo
I transmite a Secundo
I que, integrado em Primo II transmite a Secundo
II. Na hora em que Secundo, promovido a Primo, começa a
falar, pode começar também uma ocasião de
mudança, vinda na instabilidade do social, pois o homem
afina o que diz nas repercussões que a vida lhe imprime
nas matrizes da alma.
A língua é anterior ao indivíduo
no mesmo sentido em que um homem é anterior a outro homem.
Da geração dos ascendentes, portadores da língua,
nasce, em procriação familiar, a geração
dos descendentes, recebedores da língua, em procriação
fabular. A língua passa aos recebedores mediante as falas
dos portadores. As falas recebem-se mas a língua se filtra,
vivencialmente, no espírito de Secundo.
O importante não é a anterioridade
da língua, mas a anterioridade do portador. Isso não
viu a metódica vigente empenhada em explicar a fala pela
língua, em vez de explicar a língua pela fala.
41.
A lingüística tem insistido em ver
na fala o aspecto individual da comunicação humana,
atribuindo à língua o aspecto social. A sugestão
é antiga e Saussure a fixou no binômio língua
e fala, vendo, nesta, o produto individual, e naquela, o produto
social.
Conclui-se do caso que tem faltado à escola
reflexão, não havendo meditado em que produto
é particípio passado e em que a função
social deve buscar-se é no particípio presente.
O que produz a língua é a fala, procedimento
social. Do producente fala - manifestação inter-individual
e pois social - nasce o produto língua - estado intra-individual
e pois fora do social.
Toda vez que um indivíduo fala, está
submetendo as formas da língua às possibilidades
de uma alteração. Assim começa o mudar
de uma forma: ou ela se torce na má transmissão
que sai da boca de Primo ou ela se torce na má recepção
que entra no ouvido de Secundo. Na verdade, está fundada
no preconceito vocabulista, mas sem apoio na observação
social, a intangibilidade sugerida pelos neogramáticos
de Leipzig, ao negar a eficiência do poder individual.
O comércio fabular é um ato de socialidade,
um exercício a dois, com ensejo de propor e ensejo do aceitar.
Está certo e mais do que lógico, dizer que um
indivíduo não muda a língua; mas também
está certo dizer que o indivíduo muda
a língua. O que está errado é supor que a
língua seja uma realidade sibi-sistente, regida de leis
peculiares, subtraída ao poder do indivíduo. Isso
é imaginá-la autônoma, isso é reduzir
o fenômeno fabular a um reflexo de baixa tensão,
a um reflexo natural de coisa inata. Ora, a língua não
é um reflexo natural e sim uma reflexão forjada
pelo homem, desde aquele dia em aue aprendeu a condicionar dentro
de si, juntamente com a representação de uma idéia,
o signo intencional que a veicula.
42.
O animal tem certos dons inatos ou biológicos:
1°. A capacidade fisiológica da aferência
sensível, que lhe carreia excitações que
vão do meio estimulante aos centros vitais. A vida é
uma equação com esse meio vital. Vindo o estímulo
dele, os reflexos equacionais promovem a resposta. O homem, porém,
convertendo o reflexo em reflexão, recondicionou a resposta,
inovando o sentido do estímulo e explorando as energias
do meio.
2°, A capacidade, entre os procedimentos corporais,
dos procedimentos de imitação e dos procedimentos
de exercício. Num procedimento de exercício, o indivíduo
repete, fingidamente, um procedimento vital. Por meio dessa função
lúdica, ele reproduz, em situação
não real, estruturas de uma reação que a
vida um dia pode exigir-lhe. No procedimento de imitação,
em que copia feitios vistos, o animal exibe o poder da sua função
mímica.
3°. A capacidade fônica, empregada no
exercício de emitir vozes expansivas.
No animal racional, por mistério da espécie,
desenvolveu-se uma definida autonomia do espírito, através
de progressiva liberação da vida mental. Mediante
isenção da servilidade hic-nunc-ista, o homem aprendeu
a guardar a reação para outro lugar e hora, álibi
et ólim, depois de transformar o reflexo do meio em
reflexão sobre o meio, através de vivências
exercidas no internato do espírito. Assim, posto em frente
ao Real, foi conseguindo desprender o seu Eu e erguê-lo
como Sujeito, ordenador do Objeto.
Na marcha desse trânsito imemorial, marcha
de hominidade, o viático
foi a manifestação fabular. Essa é a razão
de se dizer que a fala hominizou o homínida.
Certo dia, muito incerto, na antemanhã da
espécie, Primo começou a imitir uma intenção
na voz que emitia. Podia ser também que o fenômeno
houvesse começado em Secundo, ao descobrir uma intenção
na voz de Primo. Seja como for, o certo é que o homem transformou
a voz em veículo da representação mental.
Acondicionou uma intenção no que eram antes
meras vozes expansivas, um antigo produto da capacidade fônica
animal. Sincronizada com essas "vozes", ainda secundárias,
usava da "fala de corpo", jogo espontâneo de atitudes
e gestos, tomados à capacidade mímica e lúdica.
O ato de fala é um procedimento teatral.
43.
Assim começou a nascer a língua,
no dia em que o ato de emitir a voz, em lugar de ser uma reação
expansiva, começou a ganhar força de reação
expressiva. Essa voz, em lugar de ser uma voz provocada
pela presença material da coisa, foi passando a ser
uma voz provocadora da sua presença mental. Ao
esquema de um procedimento vital, presencial, impulsivo, sucedeu
o esquema de um procedimento vivencial, ausencial, reflexivo.
Como fruto da sintonia
fabular, veio a superação da gregariedade, elevada
a socialidade.
De certo que as primeiras sintonias eram pobres
falas pragmáticas, muito pouco fabulares, muito
sincronizadas com procedimentos vitais. Eram vozes modestas, modestamente
afogadas no vigor das adjacências teatrais, postas como
substância de um contexto fabular ainda sem liberdade. Mais
tarde, no progresso dos milênios, veio a melhoria da fala
teórica, uma fala capaz de ser toda reminiscente,
produzida em outro lugar e hora, numa sintonia
de representações tão somente mentais.
Estabelecida a suficiência vocal do contexto
fabular, o comércio da fala pode desenvolver a sociedade,
fazendo melhorar o nível da hominidade
da espécie, mediante a tradição de uma experiência
enriquecida, cambiável e fácil, portátil
e ágil.
Admitido no poder de manifestar a sua representação
mental, único entre os seres biológicos, então
o homem se fez homem. Aprendeu a fiscalizar nos outros homens,
não só o curso vital da existência, que se
traduz em procedimentos, como também alguma coisa do curso
vivencial, que se traduz nas falas.
Depois do mistério da vida, cresce ante
nós o mistério desse hiato especificador, inserindo
distância entre o homem que se exprime e o rebanho dos brutos,
intransitivos e mudos. Estes, só no vital podem ser observados.
O que haja de vivencial no orango ou no chimpa, fica trancado
lá dentro dele, por falta de manifestação
fabular.
44.
A infundição da língua num
indivíduo resulta de uma lenta saturação
fabular, socialmente ministrada. Secundo vai conquistando devagar
a capacidade de ser Primo. Um dia se vê dono de um recurso
que espontaneamente lhe ocorre, quando quer exprimir-se. É
a posse da língua, uma posse habitual a que se acomodou.
Por isso, quando fala, não costuma pensar que possa estar
mudando alguma coisa, pois costuma pensar que está apenas
repetindo o já ouvido. Na verdade, porém, embora
repita, matiza talvez a expressão com algum efeito pessoal,
inter-individualmente transmissível. Portanto, mesmo sem
querer, o indivíduo influi mudança. Esta pega ou
morre, conforme a sorte. Se o destino é pegar, ela, proliferando
na transmissão inter-individual, acaba sendo mudança
que o tempo confirma e empossa.
A paciência individual às formas do
idioma tem explicação no fato de a língua
ser um condicionamento vivencialmente instalado. A iteração
condicionante implica a idéia de hábito, e o hábito
é uma segunda natureza. A língua é, pois,
uma constante repetição, principalmente quando é
língua de um grupo fechado a efeitos de aculturação.
A mudança que surge e faz ver-se, na distância do
espaço e do tempo é que se vê. E costuma ser
fruto não da intenção mas da contingência.
Mesmo nas horas sociais de aculturação e bilingüismo,
horas marcadas de algum prestígio alodialéctico,
o nativo, ante a língua pátria, com reverência
caroável, sente impulsos, não de mudar, mas de enriquecer
o vernáculo.
Procederá como Cícero, influído
pelo grego; ou ainda Camões, sob o influxo do latim. Ou
faz transvocabulação, importando o vocábulo
e o sentido, ou faz diassemiação, imitindo
sentido novo em já usado vocábulo. Assiste-o, nessa
hora, a analogia
vernácula, prudente niveladora de morfias, presente e regente
como um gênio da língua.
45.
A língua é um sedimento mnésico
da criação fabular. Sua evolução obedece,
não a leis da língua, mas a tendências dietárias
de uma economia que o plano espiritual insere no plano biológico.
São leis do espírito, e não dela, as chamadas
leis da língua.
O aparelho de fonação, animalmente
biológico, é apenas aproveitamento secundário
de uma aparelhagem fisiológica. O exercício fabular
criou nele uma habilidade prolatória intencional, respeitando
os naturais limites da capacidade articulatória. A
estilização da morfia sonora abriu distância
notável entre o signo fabular e a mesmice iterativa da
voz animal. Basta lembrar que ainda hoje são os mesmos,
iguais aos do tempo de Homero, os signos vocais de um rouxinol
ou de um touro. O homem porém, animado de energia intencional,
estilizou vozes que modelou em morfias veiculares; e
foi roteando, no aparelho, os numerosos talvegues fônicos
de que dispõe uma língua.
Tem seus limites, quanto a fonemas, a faixa prolatória
de cada dialeto. Uma boca adestrada em sua língua resiste
às solicitações de talvegues alodialécticos.
A prova, no entanto, de que sua habilidade é universal
está no fato de um infante poder educar-se em qualquer
língua.
46.
Essa conceituação está longe
daquela conceituação neofísicista, que via
regularidade mecânica nas mudanças.
Anote-se que a evolução das formas
de uma língua deve ser estudada no lugar de origem, quer
dizer, na fala. Embora contemplável no vocábulo,
como resultado, a mudança o atingirá durante o ato
de fala. Existe, na metódica, uma tímida fonética
sintática. Mas (podemos dizer) se a lingüística,
em vez de morfia vocabular, cuidasse mais da morfia
fabular, já teria explicado melhor vários efeitos
fônicos e semânticos, ao ver como repercutem, na forma
e no sentido, emergências do molde frástico e do
molde melo-rítmico, afeiçoadoras ocasionais da economia
sintágmica e da economia prolatória.
A evolução da morfia fônica
fabular, que se reflete na vocabular, provém de deslizamentos
prolatórios; são deslizamentos de talvegue, produzidos
pela ação individual e propagados pela ação
inter-individual.
É um deslizamento não cuidado, um
deslizamento espontâneo, que a adestração
poderia endereçar. Veja-se como a escola reforma,
no homem do campo, o armazenado roceiro de suas morfias fabulares.
Imagine-se ainda em que funduras lesionais haveriam de estar os
dialetos europeus, se não fosse a recapitulação
cultural do Renascimento.
47.
Aos limites habituais da faixa prolatória
cumpre somar as imposições da analogia, a grande
niveladora, que o comparatismo inicial do século XIX tachava
de corruptora, mas que os neofisicistas de Leipzig empossaram
em sua modesta corregedoria, cedida pelas leis fonéticas.
Examinada em projeção diacrônica,
a substância fônica da matéria fabular revela
o sentido de uma iteração analógica. Do latim
ao português, a morfia romana conceptu já
era uma promessa de conceito (pós-românico)
bem como fácere prometia fazer.
Entretanto, só a história discreta,
paciente e minuciosa, pode dar uma informação autorizada,
rastreando cada vocábulo, enfiando-lhe formas, armando-lhe
a ficha de identidade. Só ela, examinando a economia prolatória
do milênio ibérico, atravessado de tantos movimentos
sociais, poderia saber quais efeitos, individuais e grupais, conseguiram
ir de fácere a fazer, em vez de acabar
em morfias como hacer fare faire.
48.
Catalogar valores fônicos da língua
é serviço que melhora a posse do conhecimento bem
como o trabalho de educar. Entretanto, mergulhar no foneticismo,
tem sido um engano da lingüística. Os elementos de
interpretação da língua não estão
no plano fisiológico e sim no plano do espírito,
que é o plano de sua criação. Aí nasceu
e tomou forma, regida de analogia
e de economia. Para as morfias da estrutura, o nivelamento analógico.
Para os dispêndios prolatórios, o nivelamento econômico,
redutor de abundâncias e contrator de massas. Essa economia,
sendo psíquica, influi poupança mecânica.
Perturbando a nivelação analógica
e a economia prolatória, podem funcionar, durante o ato
de fala, certas reações dispendiosas, nutridas por
impulsos de clareza, de ênfase, de criação.
49.
Um vício vocabulista.
Relativamente ao Objeto, a fala é uma alusão
manifestada pelo Sujeito. É, portanto, um vício
vocabulista, sem promessa metódica, o hábito de
partir da coisa para entender a palavra. A fala
não traduz a coisa mas a vivência. No estado arcaico
e pouco homínico da espécie, a coisa era um estímulo
de procedimentos vitais. Depois, com o progresso, fez-se ensejo
de vivências, quando o homem, sofreando as reações
do proceder, começou a ver na coisa, ainda ausente e apenas
lembrada, um estímulo do pensar.
Da coisa parte-se para um procedimento vital ou
um procedimento vivencial, fabularmente manifestável. Da
vivência parte-se para a fala, para a palavra, para a língua.
Se a função fabular é uma
função de vivência, a lingüística
deve remarcar seus conceitos, examinando a fala como expressão
do homem e não como expressão da coisa.
50.
Um ato de fala é um todo vocabular inserido
num todo não vocabular. De começo, devia ser uma
fraca ingerência vocal, sincronizada com um forte todo procedimental.
Mas já era, como depois continuou sendo, um contexto auditivo,
apoiado em contextos visivos: o contexto fabular,
imerso nos contextos teatral e mímico.
Na fala
pragmática ou executiva, a alusão pode ser mais
visual que auditiva. É uma fala em que dominam as presenças:
a presença de Primo, a presença de Secundo, a presença
das coisas, a presença das atitudes e gestos, dícticos
e plásticos. Um ato de fala
pragmática chega a ser tão pouco fabular que,
ainda hoje, após milênios, pode ficar reduzido a
procedimentos visuais, pode ficar reduzido a gestos.
A riqueza da fala não começou
nas "vozes" mas nas atitudes. Seu colorido de hoje,
não o recebeu só das palavras, pois foi sendo filtrado,
vagaroso, da energia cooperativa dos contextos. Sob a sugestão
das presenças, primeiro deve ter sido o gesto, sublinhado
pela voz. Depois, foi a voz sublinhada pelo gesto. Depois, ainda,
aumentado o cabedal auditivo com a replenação
da fala teórica, o gesto foi sendo reduzido a adminículo
espontâneo e até dispensável.
Essa replenação
culminou com a fala escrita.
A fala escrita é uma fala ausencial, privada
de recursos mímicos e teatrais. Consta só de contexto
auditivo. Um contexto, além disso, menos autêntico,
por estar congelado e indireto, pois a fala escrita é
uma fala auditiva visualizada. Na fala coloquial, Primo fala
e Secundo
ouve. Na fala escrita, Primo visualiza e Secundo
lê, ressuscitando a fala.
Na boa fala escrita, Primo tem de compensar as
ausências, recobrindo lacunas teatrais e lacunas auditivas,
mediante a serventia dos vocábulos situadores e das convenções
visualizantes. Por isso é que a gente acaba escrevendo,
não como fala, mas como os outros escrevem.
51.
A interpretação da fala ainda admite
dois outros contextos, entre si relacionados: o contexto pessoal
de Primo e o contexto social do seu meio.
O contexto pessoal, condicionado em cada indivíduo,
é um aperfeiçoamento distributivo do contexto social.
Vai ele variamente a cada um, segundo aquele transfundir que passa
da geração docente à geração
discente.
Imagina-se a diferença de possibilidades,
imaginando a diferença dos níveis sociais. Veja-se
o patrimônio transmissível, na tradição
de um grupo histórico, aristotélico, raciocinante,
em comparação com o de um grupo tribal, não
aristotélico, vegetativo.
É mínima a promessa de hominidade
do grupo tribal, infralógico e travado, mítico e
simbiótico. Falta-lhe a dimensão temporal, o batismo
específico da imersão histórica, definidora
da hominidade. Cada indivíduo é uma fraca unidade,
superficial e rasa, mal autônoma, cheirando àquela
sua gregariedade colonial de magma recente. Tem uma capacidade
quantiadora que oscila na esfera dos números dígitos.
Sua perspectiva do mundo, repete a linha do horizonte visual,
entre tangentes espaciais que a distância aumenta e que
a fantasia povoa de mitos. Funde-se-lhe a vivência na permanente
crase do Sujeito e do Objeto.
Nos limites de tal patrimônio do espírito
correm os limites do patrimônio fabular, decoador de uma
língua fantasiosa e mágica, inabstrata e elementar,
descritiva e paratáctica, aspectiva e aorística.
Um ato de fala do homem arcaico é um ato de ator, cheio
de cena e drama. Ele submerge, no visivo do teatral e do mímico,
o fraco poder auditivo do contexto fabular. Não é
um ato de transmissão reminiscente, mas de repetição
vivencial, rico de iterações procedimentais.
Essa infância do patrimônio expressivo
ressoa com a infância da capacidade mental. Gera uma língua
de escassez, fraca na estrutura frástica e na elasticidade
relacional, embora rica no pormenor aspectivo, aquela minúcia
com que são vistos seres e procedimentos, sob a urgência
de uma cotidianidade mais vital que vivencial. O espírito
não generaliza. Não tira das árvores a noção
de árvore e nem dos peixes a noção
de peixe, pois fica detido, individuante e simpático,
ante cada árvore e cada peixe. Tão pouco generaliza
uma noção de procedimento como andar, variando
o vocábulo com que nomeia cada aspecto de tal movimento.
De um tal estado de língua, pré-gramatical
e pobre, ressumbra um jeito para-idiomático e hipomorfêmico.
No apoio das presenças e dos gestos, estrangula-se-lhe
a energia fabular. O que domina é o recurso visualizante,
mais a intenção melódica, vindo por último
a estrutura fabular, esse elemento maior da expressão amadurecida.
52.
É lenta a marcha que vai da fala simpática
à fala classificatória; da fala propiciatória,
de nível mágico, à fala teórica, da
ordenação racional. Além disso, todo nível
seguinte contém residuação de níveis
anteriores: o homem, teimosamente recapitulante, é um sedimento
de estratos multimilenares.
(Explicando um pormenor de sua costura, dizia uma
costureira: "Vira esta ponta pra cá e vira esta ponta
pra cá". Dizendo duas coisas, ela repetia uma só
morfia fabular, apoiando-se no desenho melo-rítmico e na
concomitância
díctica) .
Tal pobreza de contexto auditivo corresponde à
modéstia da ascensão espiritual, segundo um racionado
nutrimento de vivências comunicáveis. Afora o ensejo
de parcas falas pragmáticas, vige a discreta reminiscência
de alguma sabedoria elementar,
Para reminiscências pobres, língua
pobre. Ainda que seja rica de situadores (dícticos), padecerá
de lesão hipomorfêmica, vista a insuficiência
de seu campo anafórico, isto é, de seus meios de
remissão ao espaço fabular. A disponibilidade anafórica
é um fruto maduro da fala
teórica e ausencial, que supõe mais nível
de hominidade. Na fala presencial, basta a funcão díctica,
na tarefa de apontar ao espaço teatral.
(No nível aristotélico, é
fácil de anunciar que "o homem matou o coelho".
Existe a referência anafórica do artigo e existe
a lembrança vivencial que dispensa pormenorizações
aspectivas. Na fala de um índio ponca, a mesma frase teria
a seguinte estrutura: "homem, ele, só, de pé,
de propósito matou, jogando frecha, um coelho, ele, vivo,
agachado". - Percebe-se o cuidado aspectivo, as minúcias
de procedimento e situarão. Em meio a tal generosidade
visualizante, até se adivinha a sincronia dos gestos).
53.
O homem não-aristotélico vive imerso
nas adjacências do aqui-e-agora. É um ser hipocrônico,
iterado na estreiteza de suas dimensões. Falta-lhe aquele
sentir da sucessão que encadeia passado presente e futuro.
Seu verbo, morfemicamente aspectivo, é pobre no vigor temporal.
Semelhante estado de língua poderia fornecer
amostra do que é sincronia, caso valesse o que diz o Curso,
p. 127, quando manda eliminar dela os sinais de duração,
ficando só a perspectiva do momento: "la synchronie
ne connait qu'une perspective, celle des sujets parlants."
O homem não-aristotélico é
um homem do instante. Mas acontece que hipocronia
não é ucronia. Acontece também que o método
sincrônico é um jeito de fingir como parado o que
se move no tempo. A realidade vivencial é um procedimento
que não pára; ela não é estática
mas dinâmica. Não existe a sincronia saussuriana,
com sua intemporalidade, a não ser por artifício.
Por artifício é que se detém,
reflexivamente, um fluxo vivencial, individualmente sentido e
socialmente pressentido. Basta conformá-lo na imagem de
um "simultâneo diacrônico" para lhe ficar
bem o nome de "sincronia". Configurando momentos sincrônicos
de um simultâneo diacrônico, arma-se um estado de
língua. Mas tal trabalho, de mérito empírico,
não chega para explicar a língua. Esta, no seu todo,
corresponde a uma sucessão de momentos, que só no
tempo se define. Diacronia.
54.
Quem mede uma quantidade
de língua, em dado lugar e tempo, está medindo o
que existe em cada um dos indivíduos da grei. Está
medindo um contexto pessoal, nutrido por um contexto social. Esse
balanço é quase possível num grupo não-aristotélico,
visto ele ser pequeno, fechado, parco no tradicional, impaciente
ao não-tradicional. Mas como balancear uma língua
de cultura?
No grupo não-aristotélico,
vigoram as contingências da transmissão oral e da
contigüidade tradicional, pois o veículo é
só a fala de boca, e só a geração
dos pais é geração docente.
Influi ainda, como limitação, a curta
faixa de sua temporalidade aorística, logo embebida na
penumbra do pretérito. Junto ao agora, sem janelas do amanhã,
cai a sombra do ontem, limbo de mitos.
(Seja dito, entre parênteses, que só
um desânimo de saudade biológica, de recapitulação
filogênica, poderia subscrever a declaração
de serem felizes os povos sem história.)
Que patrimônio de homem pode ter o homem
arcaico, apertado na sua intemporalidade, e oprimido da tirania
de seus fantasmas? O que hominiza o homem é o seu poder
de criar um mundo, no internato de sua consciência. Dentro
dela reina o Sujeito, nutrido pela base espacial do ser biológico,
mas configurado em duração, que é matéria
do tempo.
O homem ocidental, tipo do homem histórico,
foi criado pela civilização mediterrânea,
mediante o trabalho de estar sempre revendo o passado, capitalizando
assim a experiência da espécie. Encontrou garantia
dessa revisão na fala escrita, progressivamente ampliada
no vigor de seu domínio. Na tradição da oralidade,
o mais que se vê é a terceira geração
falando com a primeira. Na tradição da fala escrita,
fica aberto o diálogo das séculos. Rui pode conversar
com Camões com Vergílio com Homero. A língua
torna-se um cabedal que se colhe no tesouro dos milênios.
Está sempre recirculando, pela fala de alguém, algum
valor fabular de outras eras. Há sempre alguém ouvindo
homens do passado.
Enquanto o nativo tribal se aperta na faixa de
sua in temporalidade, o homem aristotélico, revendo vivências
da espécie, vai adensando a profundez pertemporal de sua
hominidade.
Por isso é que não se pode balancear
bem uma língua de cultura, imensurável nos patrimônios
individuais, em tesouros peculiares como o de um Rui, síntese
feraz de gerações, ambulante compêndio diacrônico,
revalidador de Fernão Lopes, João de Barros, Camões,
Vieira, Bernardes; aluno feliz da facúndia mediterrânea,
estilizada por vinte séculos de devoção histórica.
55.
Diz que tem por objeto, a lingüística
sincrônica, um estado atual de língua. Recomenda-se
que não tome banho histórico, pois há de
estudar-se com isenção de tempo. Sem história,
porém, como explicar o patrimônio fabular de um ser
diacrônico por definição? A hominidade
do homem não está no ser biológico, meramente
animal, e sim no ser fabular, antigo ingeridor de tempo, vagaroso
recinto evolutivo de reais. O homem é um animal reminiscente.
Vive imerso numa duração que o libertou de muitas
equações biológicas, por saber reintegrar-se
na permanente atualizabilidade do pretérito.
Se a fala é uma expressão do homem
histórico, a língua (recurso da fala) pela história
é que tem de ser explicada. Veja-se por exemplo a língua
indo-européia. Ela tem sido diacronizada por uma repetida
aculturação mediterrânea. Começando
na racionalidade helênica, transfundiu-se no império
romano e preservou-se na espiritualidade cristã. Depois
disto e com isto, a humanidade ocidental, a partir do século
XV, pôde reduzir a um momento presente toda a riqueza fabular
de dois milênios.
56.
Pensando que via a língua como coisa em
si, o positivismo fez dela uma espécie de meio atmosférico,
admitindo-a como um bem comum que não é de ninguém.
Identificando-a como um produto social, pelejou por esquecer que
ela se produz no indivíduo, onde se interna mediante falas,
juntamente com as idéias que as falas carreiam.
Quem deseja recensear uma língua, tem de
medi-la nos portadores; mas acontece que varia em cada um, tanto
na quantidade como na qualidade. Não é de supor
que se prefira, como cota
de medir, a cota
elementar da rudeza inurbana.
Quem avalia uma língua atual, arrola o que
se usa no momento; mas quando começou a ser atual um atual
que se usa? Na massa dos valores que hoje circulam estão
valores que antes circulavam. O português do século
XX já era português no século XV. E diz o
Curso, p. 235, que o francês é indo-europeu
em quatro de seus quintos.
A língua é um valor que se move com
o homem, no tempo e no espaço. É uma coisa que é,
que deixa de ser e que vem a ser. É uma coisa que não
pára, que não toma estado. Quem lhe finge algum,
metodicamente, não lhe deve suprimir os anteriores, pois
não há bom compreender se não é por
recessão histórica.
A chamada lingüística sincrônica
é um artifício de alcance limitado: ordenar um momento
da língua, arrolando-lhe haveres em uso, é bom ato
de preparação, mas ainda não é lingüística.
Serve bem à gramática normativa, ocupada em função
didática, mas não chega para uma ciência que
pretenda fidelidade, ao tratar de seu objeto, inteiramente evolutivo
e histórico, todo imerso no tempo do homem. A lingüística
não pode ser sincrônica. A lingüística
tem de ser diacrônica.
57.
O lingüista, para entrar na consciência
de quem fala, deve ignorar a diacronia e suprimir o passado, porque
a história só faz atrapalhar. Assim diz o Curso,
p.117.
Na verdade, porém, a mesma infusão
da língua, em cada indivíduo, é um procedimento
diacrônico. Nasce o homem, não como Primo, que sabe,
mas como Secundo, que aprende. A língua que recebe, coisa
feita em Primo, no entanto para ele é coisa facienda: constrói
a posse de vagar, na medida em que assimila as falas recebidas.
Vem chegando-lhe aos poucos, no diário vulgar, a feição
cotidiana do espírito vigente. Ora é a sintonia
rotineira da fala pragmática, mais vital que vivencial,
ora é o teor gnômico da fala teórica, justificação
de uma experiência em que Primo se explica ao explicar um
real. Quando o meio é bem hominizado, existe a riqueza
da fala histórica, a fala escrita de todo lugar e hora.
Veicula-se nela, para além da feição emergente,
do instante, a feição diacrônica
da humanidade. Na riqueza da fala histórica, por entre
persistências e mudanças, pode ser visto o que ela
traz - a figura de um patrimônio mental - e pode ser visto
o que ela é, na morfia de sua expressão. Junto à
alma do povo a alma da língua.
58.
Pressupõe o Curso a conveniência
de se entrar na consciência de quem fala. Em verdade, porém,
não se confere língua entrando na consciência
dos outros, mas permanecendo na própria consciência.
Além disso, ninguém pode entrar na
consciência de ninguém. Trata-se de um internato
indevassável. Todo homem é ume ilha, embora
esteja ela disfarçada pela contigüidade social, pela
simpatia
biológica e pelo mimicismo assemelhador.
Só por analogia
vivencial é que Secundo
imagina o que pode ser a consciência de Primo,
usando de suposição gratuita e desgarantida. Julga-se
possivelmente um homem pelo que faz e não pelo que tem
na consciência, pois ela é o centro do eu recôndito,
o impenetrável recinto isento, provido de janelas para
ver fora mas sem abertas para o ver de fora.
Dizer que a fala é espelho da alma é
um dizer de sentido aleatório. Reflexo da alma serão
os procederes. Falar não é garantia. Além
do mais, o compreender de Secundo
é por confronto de semelhanças: entende pelo que
já tinha consigo e não pelo que Primo lhe mostra.
A fala emite e não transmite. É sintonia, não
comunica. Ela não gera o entendimento, que tem origem,
não fabular mas convivencial.
É na própria consciência, pois,
que o analisador imagina o que pode estar passando na consciência
de quem fala. Um valor de língua não é alguma
aparência externa mas um reflexo interno. A língua
é um estado de consciência, embora falemos em estado
de língua, por um modo de dizer. A idéia que sugere
não é de estado e sim de procedimento, meio, recurso.
Quando Secundo
admite que a fala de Primo é correta ou então bem
achada, isto não é sentimento que lhe venha de fora,
com a fala do outro, mas lhe sai de dentro, pela sua lembrança.
Quem estuda a língua não olha para
fora e sim para dentro. O esforço de extrair a língua
da sede mental em que está foi um pecado metódico
do vocabulismo
novecentista. Ele negou-lhe uma situação intra-individual
que é sua e quis atribuir-lhe, a mais de uma socialidade
que não é sua, um evoluir isento, em que o indivíduo
não influi.
59.
A metódica vigente, resumindo a língua
no vocábulo, revela dificuldade em defini-lo e costuma
atribuir-lhe mais do que ele tem.
Visto na sua evolução, o ato de fala
deve ter começado mais rico de elementos visuais que de
elementos auditivos. Com o progresso, foi invertendo-se a proporção
da riqueza, mas a língua nunca chegou a ser reduzida a
um recurso de vocábulos. Nem mesmo para idiomas fortemente
vocabulizados, como o inglês ou o chinês.
O vocábulo, na fala, por menos que o pareça,
vem sempre morfemado. Sozinho, ele não entra na frase.
Na aparência tão vocabular de um "sim"
de resposta, existem condições bastantes para diferençar
do vocábulo "sim" o sintagma "sim"
de uma frase monossintágmica.
Diga-se, aliás de passagem, que tal tipo
de frase tem seu molde perfeito, completo. Imaginar-lhe partes
ocultas ou preencher-lhe supostas lacunas, como faz o logicismo,
é trabalho que vale como interpretação, mas
não é análise de estrutura, não
é análise da língua.
60.
Benedetto Croce, identificando a intuição
e a expressão, menoscabou a vivência, essa infatigada
usineira que opera na usina do Eu, destilando hominização.
Vem na matéria-prima que usa o teor do restilo que obtém,
ao tratar qualidades individuais e sociais de Secundo, este condensador
dos impactos vitais com que o percute a existência, este
resumidor de interpretações que a notícia
fabular lhe ministra.
O real que circula entre os homens é um
fruto vagaroso dos milênios, uma filtragem de repercussões,
individual e cooperativa. Instalando-se em cada homem, veiculado
por notícia tradicional, o real em cada um se modaliza,
pois cada um é Sujeito e juiz.
A produção do real socialmente admitido
não é obra do homem e sim da humanidade. Não
é obra de um tempo e sim da diacronia.
Cada homem é um ser histórico ou
diacrônico, constituído em síntese de tradições,
em reserva de reais configurados. Cada indivíduo é
uma informação do seu meio. Até se poderia
dizer "enformação", pois o meio é
uma fôrma.
Hominizar-se é adquirir individuação
e pessoa. Hominizar-se é "euizar-se". Para o
conseguir, vai cada um enchendo de representações
o celeiro do segundo sistema, enquanto estiliza necessidades
vitais, mobilizadas como possibilidades vivenciais.
Ao dominar certas urgências biológicas
do primeiro sistema, o homem superou a irracionalidade; economizando
repercussões reflexas, prorrogou-as em elaboração
reflexiva. Trocou o estímulo da coisa, imanente, presencial,
em estímulo ausencial de representação e
lembrança. Reduziu o mundo circunjacente a um mundo de
idéias, disponível e útil. A atividade mental
criou seu endocosmo.
Por seu endocosmo, o homem confere as imagens do
mundo de fora. Quando olha fora, não está olhando
para ver mas para verificar.
Intuir e exprimir-se não se igualam. A intuição
nova é causa de surpresa e dá alteração
nos hábitos do Sujeito. O que então exprimir não
será expressão do intuído, não será
expressão do seu ver, mas expressão do sentir que
o turbou. Só depois do internamento aferencial e da elaboração
vivencial é que poderá vir a expressão do
intuído. Se a intuição é velha, dá-se
iteração intuitiva, cuja finalidade não é
ver mas verificar. Para a expressão do que seja, vale-se
da expressão que lhe ocorre, tomada no armazém patrimonial
das lembranças.
Acontece, porém, que nenhuma expressão
traduz o intuído, pois só traduzem repercussões.
A fala não exprime o que passa no Objeto mas o que passa
no Sujeito. Traduz o homem, não a coisa.
61.
O ato de comunicação, ato de fala,
tem três con textos: contexto teatral, contexto mímico
e contexto fabular. O contexto teatral consta de espaço
e de presenças: a presença de Primo, a presença
de Secundo, e a presença das coisas. O contexto mímico
constitui-se na ação teatral de Primo: teor
fisionômico, atitudes, gestos. O contexto fabular consta
de frases.
Dos três contextos, dois são visuais
e um, auditivo. Em termos de hominidade, representa
enriquecimento a progressiva replenação
do contexto auditivo e a conseqüente baixa dos contextos
visuais.
Na fala pragmática, domina o ensejo
dos contextos visuais. É uma velha fala eficiente, armada
em teatro vital. É feita de sintonia
executiva, não é fala de notícia. Acompanha
procedimentos e fica inserida no drama encenado. É tão
natural a sintaxe das presenças e dos gestos que o contexto
fabular pode dispensar-se, às vezes.
Na fala teórica, tomou importância
o auditivo. A fala
teórica é uma fala reminescente, uma fala de
notícia, fala de outro lugar e hora. Sujeita à emergência
de qualquer contexto teatral, sem presença das coisas do
assunto, foi trccand:) em gestos analógicos o que
era díetico e plástico. Foi sendo criado o recurso
anafórico, este recurso de exibir no espaço
fabular o que não pode ser visto no espaço
teatral.
Com a fala teórica, o homem foi aprendendo
a exercer-se na revisão reminiscente, a ponderar sucessões,
a imergir na duração; foi aprendendo a
ser tempo.
Com o vigor da sintaxe fabular, nutrida de replenação
auditiva, o elemento visual foi sendo reduzido a adminículo
adjetivo, mais ou menos utilizável, mais ou menos graduável,
segundo pendores de temperamento e habituação.
Na fala escrita predomina a ausência.
A outra fala, pragmática ou teórica, é uma
fala coloquial, uma fala encenada. É toda feita de presenças:
a presença e o ouvir de Secundo, a presença e o
falar de Primo, a presença da melodia prolatória,
cheia de intenções, a presença dos gestos
e atitudes. Mas a fala escrita é uma fala de ausências:
falta Secundo, para ouvir, e falta a "fala" de Primo,
com sua distribuição prolatória, suas atitudes
e gestos.
A fala escrita é uma fala auditiva
visualizada. É fala de um só contexto, desfalcada
que é do contexto teatral e do contexto mímico.
A fim de compensar tanta ausência, faz replenação
auditiva, recorrendo a vocábulos situadores e anafóricos.
A fim de simbolizar a melodia prolatória, vale-se de convenções
visualizantes, com sinais diacríticos.
Tais falas, que são falas de arte, estão
a serviço da expressão do Sujeito. A fala estética
opõe-se a fala técnica, uma fala transumana,
obrigada ao esforço metódico de exprimir o Objeto,
mediante um simbolismo isento de participação. A
fala técnica procura manifestar, não reações
de alguém ante a coisa, mas a própria natureza da
coisa. Exemplo dela pode ver-se nos compêndios científicos,
elaborados com trabalhosa linguagem, embora nem sempre trabalhada.
62.
A fala é um veiculo veiculando um veiculado.
A língua é um veículo esperando serviço.
Enquanto o assunto nos atrai para o veiculado, o lingüista
sente atração pelo veículo. A língua
é um veículo que pode ser estudado mecanicamente,
mas não pode ser explicado mecanicamente, fora da intenção
veicular. Está na intenção veicular a substância
mesma da forma da língua.
Buscando situar o real em si, o observador faz
ciência do Objeto. O lingüista, porém, vendo
que a fala traduz o real, não em si, mas no homem, tem
de fazer ciência do Sujeito. A fala humana, que nomeia e
conceitua, só tem com o real o compromisso da alusão,
enquanto vai manifestando as representações
que inspira e as atitudes que provoca.
O trabalho do lógico, ante o Objeto, está
no esforço de excluir participações, de excluir
a atitude de Primo. Assim evita a fala subjetivista; praticamente,
é toda a fala do homem, fala estética. A fala que
evita participação é fala objetivista, fala
técnica. É uma fala difícil, e que
pede outra língua, visto a língua vigente ter sido
forjada, multimilenarmente, no exercício de veicular repercussões,
elaboradas em "reais" da vivência. Para nossos
reais foi feita a língua, e não para veicular o
Real.
O Real repercute em Secundo, fenomenicamente. Nossa
filosofia diz que o juízo reflete o fenomênico. Era
melhor dizer que o fenomênico se reflete no juízo.
Quando o homem olha a circunstância, não
é para ver mas para verificar : está
conferindo repercussões da hora com repercussões
de outrora, internadas como representação e lembrança.
O homem revê e reconhece o Objeto, estimulador de vivências
já catalogadas. Basta dizer que, se vê alguma
coisa, logo se assusta e previne, entregue ao prudente resguardo
de quem se achou diante do ignoto, de quem se encontra desarmado,
sem um prévio juízo, um prévio encaixe mental
do fenômeno.
Durante a marcha horninizante da espécie,
enquanto o fenomênico se foi refletindo na vida biológica,
também foi sendo filtrado, devagar, em juizos vivencialmente
elaborados e fabularmente transmitidos. No juízo é
que o fenômeno se reflete quando, após o reflexo
biológico, ele se faz reflexivo. Com juizos, motivadores
de procedimentos, é que a sociedade afeiçoa um homem.
Uma vez refletido, biologicamente, em Secundo
(vivencial), o fenômeno vai internado como repercussão
e amoldado em conceito, no espírito de Secundo
(fabular). Por vezes, não satisfeito com a imagem tradicional,
Secundo, elevado a Primo, reinterpreta, reconceitua e retransmite,
fornecendo contribuição de mudança. Quando
a tradição incorpora a mudança, cresce o
patrimônio.
63.
O contexto fabular faz um percurso entre a boca
de Primo e o ouvido de Secundo. Consta de um modelado fônico
a veicular um modelado mental. Falar e ouvir são dois
claros momentos inter-individuais, ambos ativos, ambos importantes,
na teoria da língua. Refutando um ponto de vista vigente,
cumpre dizer que o ouvir, para o lingüista, é mais
importante que o falar, pois no ouvir é que nasce a língua,
objeto metódico do lingüista.
De tanto ouvir, Secundo
acaba adquirindo habilidade, através de paciente elaboração
vivencial. É uma conferência espontânea, sempre
possível, a toda hora, enfiada na continuidade mental da
vida interior.
Para a posse da língua, basta a saturação
vivencial. Para a consciência da posse ou consciência
da língua (objetivo do lingüista) cumpre deter-se
naquela operação reflexiva que influi consciência,
ao filtrar, em sedimentação, a decoada dos moldes
e das disponibilidades: moldes frásticos, sintagmáticos,
prolatórios, junto a um soluto
de idéias e vocábulos disponíveis. Tudo isso
é um trabalho mental de quem ouve, justificando o dizer-se
que a fala é de Primo e a língua é de Secundo.
Quem recenseia os valores da língua faz
anamnese. Mas não deve deter-se no momento posterior ou
momento Secundo. Busque também o momento original, o momento
fala, o momento Primo. Não se esqueça porém
o julgador de que o poder fabular dos outros tem de ser julgado
analogicamente, a partir do julgador.
A ordem do prestígio vigente, que dá
mais importância a Primo, está na ordem "falar
e ouvir". A ordem genética, porém, conserva
a perspectiva discente docente. Olha primeiro o ouvir, dando importância
ao fato de que "a língua é de Secundo".
A primeira experiência do homem, ainda infante, não
é a de falar mas a de ouvir. Ele nasce como Secundo
fabular, Secundo
ouvinte. No meio fica o momento aquisitivo, aquele tempo de filtrar
falas para coar a língua, a fim de também falar,
no jogo funcional Secundo
e Primo, que enche a vida de Secundo
Primo.
Ouvir e falar, receber e transmitir, são
parcelas de uma soma cujo resultado é "língua".
Os lingüistas porém, em vez de somar fizeram subtração.
Nem mesmo Saussure, ao configurar a fala, soube aproveitar: não
viu nela o ponto de partida e não somou. Vencido pela rotina,
só admitiu a lingüística da língua.
A evidência, entretanto, está mostrando
que a lingüística tem de ser da fala. A fim
de se evitar a catacrese, pode ser que ainda se invente algum
nome como "femiologia" ou "fabulística".
Deixe-se ao tempo resolver o problema. Fique porém
assentado que a ciência da fala é ciência de
uma específica manifestação humana. É
ciência de um procedimento inter-individual, que
a sociedade enriqueceu. O procedimento fabular é um procedimento
condicionador, que deposita no indivíduo um patrimônio
chamado língua.
64.
A quem ordena valores da língua logo se
apresenta, enfática, a figura do vocábulo. Vem-lhe,
o prestígio, daquela constante socialidade, em que vive,
com a idéia da coisa. É uma dieta
de reciprocidade reminescente: vai-se da coisa ao vocábulo
e deste à coisa, através de um fato comum na economia
vivencial, durante o contínuo fluir da fala interior, uma
fala de quem nada está dizendo, mas apenas sentindo passar,
na lembrança, o filme da vida.
Não admira que o vocábulo tomasse
preeminência e que a lingüística vigente o tomasse
como sua figura central. Mas vamos repetir, apontando o engano,
que o vocábulo é um valor de quarta grandeza, e
tão abstrato que sozinho não aparece na frase. Cumpre-lhe
receber primeiro o endereço funcional dos morfemas. Depois,
uma vez atualizado, já não é vocábulo
mas sintagma; em seguida, desfeito o sintagma, com redução
potencial, torna a surgir o vocábulo, mas também
o morfema.
Desmontar frases para catalogar língua é
operação que rende mais coisas que uma simples coleção
de vocábulos.
Em primeiro lugar, as palavras da frase obedecem
a uma sucessão tradicional, feita de lugares habituais,
que constituem o molde frástico.
Em segundo lugar, a frase tem melodia tradicional,
admitida no seu molde prolatório ou molde melo-rítmico.
Em terceiro lugar, a frase tem agrupamentos vocabulares
tradicionais, que se revelam na estrutura do molde sintágmico.
Se são tradicionais a sucessão, a
melodia e a relação intervocabular, então
isto são constantes sociais da língua, superiores
a algum arbítrio individual da fala. Aparecem na fala e
catalogam-se como valores da língua. Chegam a Secundo por
macia instalação, em lento ruminar de vivências.
Vinda a hora de Primo falar, vêem-lhe as convenientes lembranças,
a oferecer-lhe o relacionamento vocabular dos sintagmas, a sucessão
dos devidos lugares e o competente vestido melódico.
65.
O molde geral da frase indo-européia, noticiando
o procedimento de um ser, tem a figura de uma
conveniência entre um sujeito e um predicado: o cavalo
corre.
(Cumpre ressalvar que a visualização
transcriptícia pode estar escondendo a riqueza de um ato
fabular. Convinha era surpreender Primo
e Secundo no autêntico do drama, sob os efeitos teatrais
da densidade prolatória, das atitudes e dos gestos. Não
raro, o menos importante, num ato de comunicação,
é o contexto fabular.)
Assim como um procedimento ocupa o centro psicológico
da atenção, assim também o sintagma verbal
ocupa o centro da estrutura frástica.
Uma frase do tipo "o cavalo corre" consta
de Nominativo e Verbo: NV. Se visto o procedimento, não
se lhe viu quem o tem, a frase traduz apenas o predicado: chove,
troveja, neva.
Junto ao centro verbal, situando o procedimento
no espaço e no tempo, foram aparecendo sintagmas adverbais
: o cavalo corre agora no Prado. (Junto aos sintagmas
fundamentais, dois sintagmas adverbais.) O sintagma adverbal pode
ter o sentido não espácio-temporal de uma classificação.
O cavalo corre "com pouca vontade".
(Além da frase verbal, já
tinha existência indo-européia a frase nominal,
do tipo "vita brevis", ampliada em "vita est
brevis"; "belo dia!", o dia está belo.)
66.
Uma frase do tipo NV, o cavalo corre, satisfaz
bem a um sentimento de plenitude, que vê elementos accessórios
nos adverbais de situação.
Entretanto, com o progresso mental da fala indo-européia,
a relação de causa e efeito inspirou o molde do
tipo Caio comprou casa, feito de Nominativo Verbo e Acusativo,
NVA. Foi desdobrada a função predicativa, pois além
do procedimento em si, o verbo o traduz também na sua projeção.
Do encadeamento semântico "agente processo paciente"
foi procedendo a idéia de sujeito agente e sujeito paciente,
na mal exposta categoria da voz.
Assim, pois, ao molde do tipo Nominativo e Verbo,
ajuntou-se o do tipo Nominativo Verbo e Acusativo de paciência.
Junto ao binômio NV, o trinômio NVA.
Ao lado, fica o trinômio "Caio é
bom" da frase nominal: Nominativo, verbo ligativo, e nominativo
predicativo; Nvn.
67.
A generalização do molde sujeito-predicado
representa uma conquista racional. A fala do homem arcaico, im
pedido do aqui-e-agora e agarrado ao visivo, devia ser uma fala
mais ocupada de expansões que de notícia das coisas.
Ainda hoje perduram, como persistências, estruturas truncas
de tais expressões, parafrasticamente interpretáveis,
mas alheias à forma de sujeito e predicado. São
frases de molde infrafabular como "fogo!" "socorro!".
68.
Não é fácil de sumariar, numa
exposição escrita, a importância do molde
melo-rítmico. Passemos então ao molde sintágmico.
Sintagma é cada um dos elementos funcionais da
oração. Além do Verbo, espécie de
super-sintagma, são sintagmas: o Nominativo, o Acusativo
de paciência, o acusativo e o ablativo espácio-temporais,
e o dativo. (O Vocativo é um sintagma em destaque.)
O que marca o sintagma é o fato de ele ser
um elemento adverbal, binomialmente relacionado com o
centro do predicado. Os elementos adnominais não
passam de sub-sintagmas.
A posição dos sintagmas, no molde
frástico, é regida por uma sucessão tradicional.
Veja-se como Raimundo Correia, no mesmo soneto e com os mesmos
sintagmas, fez dois versos diversos:
A lua banha a solitária estrada, NVA;
A lua a estrada solitária banha, NAV.
69.
Quem desmonta frases encontra sintagmas. Quem desmonta
sintagmas encontra vocábulos e morfemas. Desmontando a
morfia fabular, a lingüística já consegue
o bastante para compreender a estrutura da língua. Na verdade,
porém, a rotina e a metódica, enganadamente, começaram
na morfia vocabular. Aí se estuda a feição
fônica do vocábulo, submetido a anatomia silábica
e fonética. Mas tal estudo é apenas um exercício
curioso e didático. Não é lingüística
central.
Estudando a morfia vocabular, encontra-se o problema
dos morfemas nocionais, diversos dos morfemas relacionais.
Estes, entram na sintagmática. Há morfemas
relacionais inter sintágmicos e intra-sintágmicos.
Há morfemas fusivos e autônomos, adverbais e adnominais.
A morfemação nocional fica no plano
intravocabular. Tem sentido semântico e enriquece noções.
Facilita aproximações analógicas e agrupamentos
cognatícios, como porta portaria porteiro comportar
etc.
O morfema relacional é fabular, mas
o morfema nocional é vocabular. Aquele, endereça
relações binomiais de sintagmas. Este, alterações
semânticas na veicularidade do nome.
70.
A história da língua indo-européia,
rompendo fronteiras dialetais, revela que a multiplicidade atual
sucedeu a uma antiga unidade, anterior a uma vasta diáspora
tribal, cujo fluxo tem ondas de séculos. É fácil
de supor o esquema da, redutibilidade, na via de recessão,
mediante planos sincrônicos sotopostos. Na rota quadrimilenar,
historicamente traçada ou arqueologicamente indicada, corre
uma linha patrimonial de valores antigos, marcados de necessidade
metamórfica, na direção daquelas tendências
fônicas impressionantes, que deslumbraram o organicismo
de Schleicher e o mecanicismo dos gramáticos de Leipzig,
colegas de Saussure. Cumpre reordenar a perspectiva da metódica
indo-européia, eliminando o plural da palavra língua.
Não existem línguas mas a língua, evolutiva
como o homem, caminhando sempre para estados posteriores, dialetais.
Também o indo-europeu é dialeto de um estado anterior.
Fica-lhe o nome língua não por diferença,
mas por conveniência, dado o limite da possibilidade verificadora,
que nele se detém, como em ponto final da linha recessiva.
Todo estado posterior é outro dialeto. Todo
estado continuado é o mesmo dialeto. Na área do
interesse latino, a língua indo-européia exibe quatro
largas posições dialetais: o estado pré-romano,
o estado romano, o estado românico, o estado pós-românico.
Latim romance e português não são três
línguas mas três momentos diversos da mesma língua.
|