Quando a memória se tinge de música
Leda Maria Martins*
Texto, lugar do encontro.
Rui Duarte
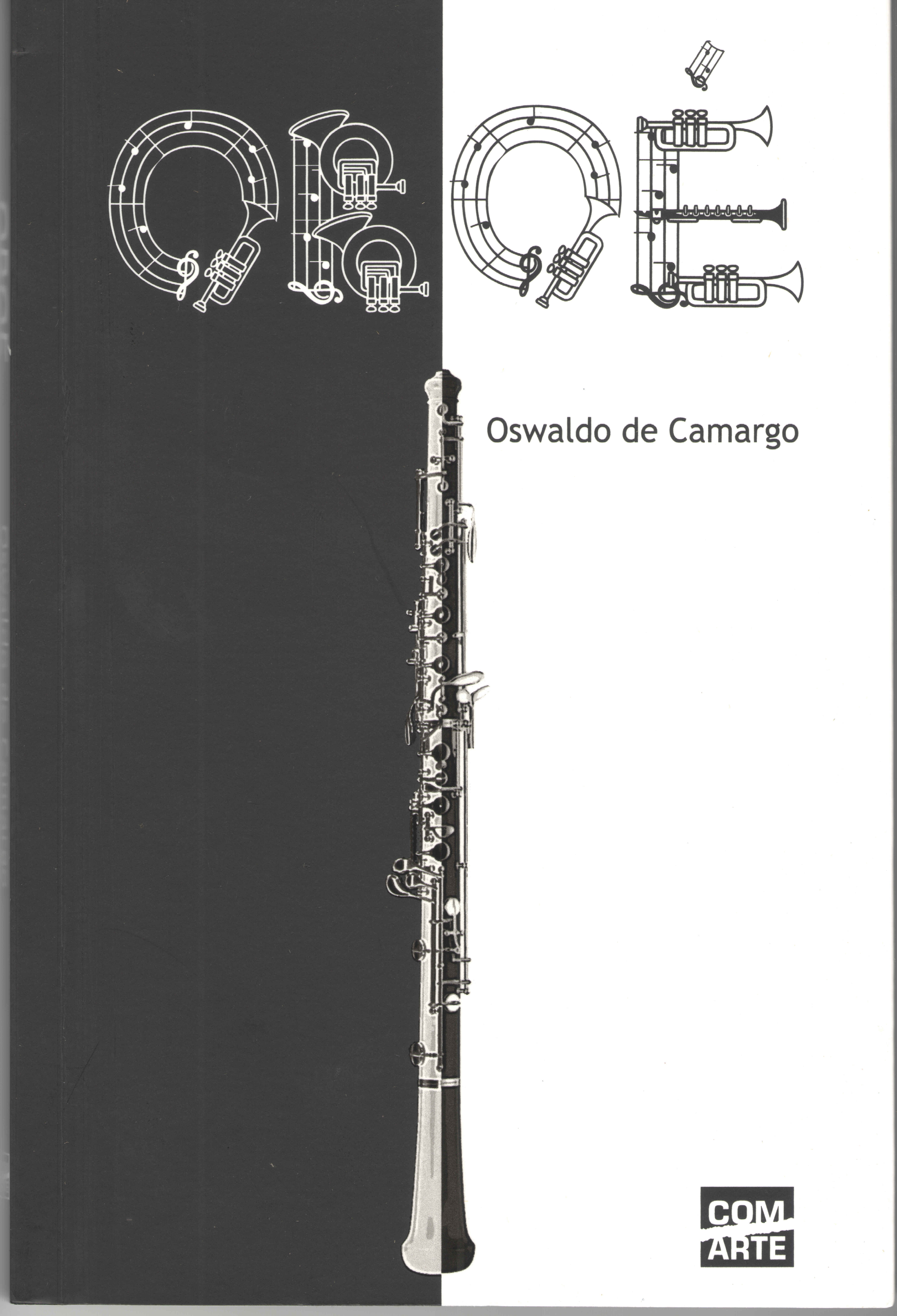 Oboé, o texto, o instrumento. Oboé, o escritor Oswaldo de Camargo. Oboé, a maestria da voz, inscrita na letra. Oboé, uma oferenda, uma pérola literária encantatória que o escritor oferece a nossos olhares e à nossa escuta.
Oboé, o texto, o instrumento. Oboé, o escritor Oswaldo de Camargo. Oboé, a maestria da voz, inscrita na letra. Oboé, uma oferenda, uma pérola literária encantatória que o escritor oferece a nossos olhares e à nossa escuta.
Oswaldo de Camargo é um escritor de múltiplas letras, íntimo da escrita, íntimo da música. Romancista, contista, poeta, jornalista, historiador literário, ensaísta. E é também pianista e organista. Em sua vasta obra, ao longo de mais de cinquenta anos, tem oferecido aportes significativos à história da Literatura Brasileira e à do pensamento crítico-reflexivo sobre as artes, as culturas e o papel de destaque do negro no processo de construção civilizatória e na formação do Brasil, papel esse ainda invisibilizado pela persistência e denegação do racismo em nossa sociedade. Em seu ofício de escritor sobressaem inúmeros textos fundamentais para fruição e compreensão das artes negras brasileiras, entre eles a novela A Descoberta do Frio, de 1979, O Estranho, livro de poesias, de 1984, diversos ensaios, merecendo aqui citação o seminal O Negro Escrito, de 1987, além da organização e participação em várias antologias, algumas no exterior. Destaca-se também sua postura participativa e comprometida com todas as causas que têm o sujeito negro como sujeito da história deste país.
Oboé é mais um desses gestos de escrita que vem enriquecer a Literatura Brasileira.
Neste texto de Oswaldo de Camargo, o oboé empresta ao narrador protagonista cor, identidade, versatilidade, consciência de si como negro, além de constituir a linguagem literária como grafia musical, melódica, rítmica, cheia de cadências vocais e tímbricas. Como tema e suporte sonoro, o oboé produz uma ritmia ímpar, pela qual os sabores da fala e da textualidade oral são caligrafados pela maestria da escrita.
A narrativa se faz como uma partitura que ressoa à nossa escuta como uma plêiade de sonoridades e ritmos, por meio dos quais o relato do narrador performa fragmentos de sua história, em um exercício de reminiscência, em especial os da sua vivência de menino, quando, aos seis anos, se depara com um instrumento estranho, o oboé, cujo som e forma o capturam em um encantamento que passa a reger sua vida na fazenda cafeeira Cristiana, propriedade de Sinhazinha — Senhora Maria Emília do Santo Céu —, viúva entrada nos seus sessenta anos, com “antepassados lusos de cepa nobre, qual apregoavam que eram os dela”. Ali, em 1934, quando o futuro oboísta tem seis anos, chegam vinte e cinco emigrantes alemães, com a missão de cultivar trigo em Cristiana.
Aos 86 anos, em conversa com um narratário que nos é evocado apenas pela fala do narrador, numa técnica à la Guimarães Rosa, o antigo oboísta rememora:
Criança preta, pais apanhadores de café, absurdo que, com sete anos, sempre descalço, vadiando na fazenda Cristiana —, em uma região hoje chamada Vale dos Castelos —, havendo me aproximado do notável instrumento logo alcançasse habilidade e inexplicável brilho (CAMARGO, p. 39).
Sentindo-se “demais vergado debaixo da idade”, o narrador ilustrado sopra fragmentos da vida do pequeno Cicinho, na fazenda de café. Alternando na sua história de tempo de menino os rastros do pai, da mãe, da Sinhazinha e dos que a cercavam, além de personagens vários da redondeza com a história dos lugares, vilarejos e mesmo da própria fazenda e de seus entornos, o narrador tece uma narrativa de múltiplas vozes, de paisagens diversas, de sujeitos alternos, tudo enredado na lembrança de si mesmo. Dali se evocam os carinhos fugidios da mãe, o desejo de ser notado pela Sinhazinha, o contato com a menina Liddy Anne “e seu aroma de sabonete alemão”, o encontro com o oboé e a atração imediata, o aprendizado para o domínio do instrumento, a observação fina de cada um dos personagens que o circundavam, as histórias entrecruzadas de gentes e lugares, forjando o entendimento aguçado do mundo à sua volta, com o qual busca compreender a si mesmo, seus entrelugares e trajetória, a experiência de ser e seu pertencimento, como negro e instrumentista clássico, numa sociedade discricionária, motivada por racismos.
No dobre das reminiscências evocadas, ora com gosto lúdico ora com tênue angústia, a figura do pai, talentoso criador de cantorias, perpassa toda a narrativa. Esse pai que funciona como vetor da maldisfarçada discriminação que angustia o menino, que a percebe, sem ainda compreender, e a do adulto que a narra insistentemente como marcação tímbrica do oboé. Enquanto ele, aprendiz de oboé, calçava o primeiro sapato e podia adentrar o casarão da fazenda (de mil metros de construção, como pesquisou Julinho, afilhado do velho oboísta, na internet), e tocar às vezes na capela dedicada à Imaculada, aproximando-se pelo menos de Sinhazinha e de seus parentes e conhecidos, expondo sua precoce virtuosidade em apresentações que causavam admiração no Vale dos Castelos, o pai, criador de inspiradas cantorias, nunca pôde adentrar esse mesmo casarão e nunca foi convidado para mostrar as cantigas que lá fora, sobretudo em Pretéu, terra só de pretos, vila adjacente a Cristiana, o faziam conhecido e muito estimado. Este descompasso pontua o narrar e tinge de tons sombrios a visão de mundo da então criança, capturada entre a alegria da inclusão e do aplauso, pela performance da música em um instrumento tão estranho à sua raça e condição social — e mesmo especial entre os demais instrumentos —, e a exclusão do pai, cujas cantorias expressando o mundo dos colonos, “simplórios camaradas, gente preta, a maior parte”, nunca encontraram, em Cristiana, reconhecimento, muito menos louvor. É esse pai e essa negrura marginalizados (teria o autor, com o nome Cristiana, a intenção de apontar o mundo branco engessado pela civilização “cristã”?) que dão o tom amargo da angústia da criança e da reflexão do adulto feito narrador.
Minha mãe achava mais digno eu ficar com meu pai — a mesma coisa que estar ao léu na fazenda, na barroca, solto, pois ele andava sempre, enquanto vassourava, distraído com imaginar alguma cantoria para apresentar nas festas em Pretéu, povoado adjacente a Cristiana. Meu pai inventava música, longe de pauta, sustenidos e bemóis, mas inventava bastante (CAMARGO, p. 40).
Na constatação do “despropósito” e do “absurdo” na exclusão do pai, sempre repetidos, fundem-se a afeição e ligação com a figura paterna assim como a percepção da discriminação do sujeito e da música que o alçavam como ímpar na ternura e na admiração do filho, matizando sua tristeza, tornando visíveis e densas as armadilhas do racismo. As diferenças fenotípicas entre pai e mãe, esta última de negrura acentuada na cor e nos traços, ao contrário do pai, de certo modo também motivam as identificações subjetivas da criança, afeta mais ao pai que à mãe, mesmo quando adulto, e mesmo no relato, no qual a mãe aparece como imagem fugidia, problematizando, pela própria narrativa, os efeitos violentos do racismo e da discriminação na constituição interior do sujeito, suas afeições e escolhas:
Mãe era uma preta alta e magra, aparência comum de mulher trabalhadeira em cafezal, pano na cabeça ou chapéu largo de palha, suor. Meu pai era um tanto apessoado, jeito fino no rosto, de leve chegado a branco no nariz, no lábio. Cabelo, sim, era muito de preto, pixaim bem cerrado. Meu pai era mais vistoso que minha mãe [...]. Doutor, vejo hoje, quase em choro: minha mãe era mãe. [...] Durante anos de minha vida, meninice, juventude, convidado nas vilas do Vale para me apresentar com meu oboé, minha mãe ficou muito esquecida, tal o sucesso do meu sopro. De meu pai, sim, eu falava, se aparecia vazio para uma prosa com aqueles brancos que me ouviam ou visitavam o casarão ou a capela de Sinhazinha (CAMARGO, p. 55).
Adentrar o casarão de Sinhazinha, “assistir ao despropósito que era viver no meio de tanta beleza” foram seu privilégio, ao mesmo tempo um encanto e uma aflição, já que ao pai não era oferecida a mesma oportunidade:
Só mesmo por eu tocar oboé; mas, quando sucedeu isso de eu ser chamado pela Sinhazinha para tocar no casarão dela, eu já ia nos meus doze anos, e um tanto sofrido, porque ninguém lá nem ligava para a música que meu pai inventava, só mesmo em Pretéu, nas festas como a de São Benedito ou na comemoração do passamento do Beato Nego Vito. E eu queria que ligassem (CAMARGO, p. 44).
E se questiona:
O canto de meu pai não era objeto favorável para o louvor? (CAMARGO, p. 75).
Entrelaçando a perplexidade da criança com sua agora compreensão do que motivava a exclusão do pai, negro e fazedor de música para os camaradas, o narrador, ainda uma vez, reclama esta ausência, denuncia a invisibilidade e a indizibilidade do negro ao olhar e escuta do branco, repetindo, como tom insistente, a consciência da segregação racial, dobres que ressoam por toda a narrativa:
Quem sabe o que morava no íntimo da senhora Maria Emília do Santo Céu? Por que tão cega e surda em assunto de conhecer – além do humílimo trabalho deles- a vida dos pretos colonos? Por quê? E por que meu pai, até o final, não pôde cantar na capela, nem mesmo para oferecer gratidão à Imaculada? (CAMARGO, p. 121).
A impossibilidade de convivência e de conciliação entre a música branca e a cantoria caipira feita por um negro, metáforas do filho e da figura paterna, a aceitação do menino e a exclusão do pai, problematizam as identificações e afeições do filho, moldam seu entrelugar, friccionam as heranças e tradições africanas e europeias, sublinhando as tensões subjetivas, identitárias, étnico-raciais e culturais que também pulsam na narração e nos dilemas do protagonista. Em um dos momentos mais emblemáticos da narrativa, essas tensões se objetivam quando o menino e seu oboé vacilam no contraponto entre o canto cristão e o canto religioso afro-brasileiro, entre as melodias e pautas musicais europeias e os ritmos e timbres da música negra, entre o oboé e o tambor, num desconcerto exemplar:
Subi com ela ao coretinho e iniciei a introdução, com bastante fé e sentimento. E Alicinha, olhos voltados para o céu, donde o Nego Vito abençoava aquela gente toda:
Doutor, pela primeira e única vez meu oboé foi indeciso, vacilante. Ainda mais quando um molequinho, todo grudado à noite, iniciou batida num pequeno tambor — tum, tum, tum, tum...
E Alicinha:
Não pude ir junto; meu oboé não pôde; a dificuldade curvava o som dele, que me pareceu fictício, diferente do que assumia com os cantares na fazenda de Sinhazinha, na capela dedicada à Imaculada (CAMARGO, p. 49).
Interessante observar que ao tentar conciliar as duas matrizes musicais e criar interlocução e concerto, o menino, reagindo à paralisia momentânea, toca a Dança das Sombras Bem-aventuradas, da ópera Orfeu, de Gluck, que, diz o narrador:
[...] eu havia tocado algumas vezes na capela de Cristiana ou, em outras, distraindo-me junto ao Córrego da Solidão, que corria inteiro dentro da fazenda de Sinhazinha [...].
Assim, de seguida à apresentação de Alicinha, oboé e o tambor, naquela noite soltaram uma cantoria combinada com o assobiar de três pretos — (tradição serem três). Soviavam bem alto em direção à mata, que, sob tão grossa escuridão, me pôs grande medo. Diziam que era canto e jeito de cantar guardado do tempo dos cativos na região. Servia para acordar a Liberdade, que dormia lá no muito longe (CAMARGO, p. 51).
No corpo do oboé, o corpo negro do menino se assemelha, se espelha, encontra unidade, como bem expressa o amigo Noé:
[...] que se detinha no registro “oboé”, dizendo que se algum instrumento fala de verdade, com música, era o que eu tocava — madeira, preto, levinho-, e que expressa tão bem melancolia e suavidade, talvez o hálito infantil da esperança [...] (CAMARGO, p. 136).
E olhe, eu era só um menininho, de porte apequenado como a maioria dos molequinhos; todos à espera de crescimento, a fim de aspirar hálito que desse força para singrar o mar do seu destino. No meu, o oboé me secundou, decidiu (CAMARGO, p. 96).
Na esteira das múltiplas atrações e identificações da criança, o pai, a menina alemã Liddy Anne, sobressai também, como contraponto, a dos mestres negros, José Paulo da Silva, que “ofereceu o primeiro texto de ensino, com sua Cartilha...” e Noé. A referência aos mestres negros pontilha a trajetória de confortos, anuências, referências, e a influência benéfica exercida por eles nos entrelugares compartilhados pelo jovem músico e sua formação também intervalar entre saberes distintos, às vezes tidos como excludentes, que o formatavam.
Se a imagem do pai frustra-se no entendimento ante os olhos da criança, se a Sinhazinha — Senhora Maria Emília do Santo Céu — revela-se cega e surda, o negro Noé será o contraponto no alumbramento infantil e mesmo na trama do narrado, alçado à categoria do herói que se vinca como identificação e referência positivas negras nas treliças de construções identificatórias do menino. Noé adentra a casa do branco para “exigir” direitos, esculpido como signo de coragem, determinação, imagem e lembrança jubilosas:
Tudo isso ouvi contado depois — natural —, pois eu era demais menininho. Mas soube que Noé, em ida ao casarão de Sinhazinha, fora “exigir”, com papelada oficial entre os dedos, que, tendo escola pra alemãozinho, também teria pros molequinhos, e desde bem cedo. [...] Foi assim que os colonos de Cristiana, a fazenda mais antiga do Vale dos Castelos, assistiram ao aparecimento assombroso de um preto trajado de igualdade — facho erguido por Noé, meu primeiro mestre de Teoria e durante toda a vida amigo muito sincero. Então afirmo ao doutor: Noé me ocupa, com mãe e pai, mais da metade do meu coração (CAMARGO, p. 132).
A narrativa de Oboé estrutura-se em 25 segmentos, breves árias que destilam fragmentos da história do narrador, restos de uma memória caligrafada em tons ora poéticos, ora dramáticos, com leves toques épicos, em que, à la Proust, os requintados sons do oboé evocam a vida vivida, a vida sonhada, a vida frustrada, a vida experimentada de um músico negro que das fazendas de café adentra a cidade grande, impondo-se com talento e teimosia. A narração em primeira pessoa, do próprio personagem-protagonista, tece um painel, às vezes íntimo, às vezes mais amplo e coletivo, de sua trajetória, quer como menino negro, músico e pobre, quer como um aclamado instrumentista, já adulto, na construção de uma identidade conflituosa, seus enfrentamentos pessoais, suas adesões, ideias, empenhos e desilusões.
Sou apenas um homem que aprendeu, em pequeno, a tocar oboé. E oboé abriu via para outros conhecimentos: literatura e história dos povos [...]; música e religião com Noé. Depois, na capital, enfrentei alegrias e tormentas no meio de pretos juntados em associações de cultura, de baile, até uma certa imprensa que eles mantinham para dar rumo de respeito ao povo da nossa raça.
Hoje, sou resto.
— Por que, doutor? (CAMARGO, p. 125).
Quando a memória restitui a voz da criança, o relato é poético, e a linguagem, tecida por sonoridades diversas, canta os sons do oboé, sibila a suavidade da fala infantil, tinge-se de belas metáforas, colorindo a reminiscência com a dicção poética. Na escolha do léxico, na construção frasal, nos voltejos da palavra, nos arrepios dos contrapontos sonoros e rítmicos, nos nomes dos lugares, a lírica poética se instala, como se a narrativa solfejasse.
Quando os fragmentos narrados restituem o olhar adulto, os tons são dramáticos e a narrativa firma-se na prosa quase ensaística, numa colagem de textos jornalísticos, dados acadêmicos, fragmentos de diários, testemunhos de várias fontes e vozes performadas pelo narrador. Por meio desses variados registros de linguagem, se desnudam, com ênfases diversas, as reflexões amargas do velho narrador, sua percepção de si mesmo e, em particular, sua visão do racismo e da discriminação no Brasil, sua consciência do esquecimento, seus vazios e recobrimentos. E é por meio dessa linguagem multivocal que o sujeito narrado sibila, como som mesmo do instrumento que melhor o vocaliza, restituindo sua cor, o oboé:
Veja: sou hoje um homem desbotado, mas tive a minha cor. O oboé mostrou minha cor, de preto que se alçou e, então, foi notado; eu luzi, brilhei por cinqüenta anos, na fazenda de Sinhazinha, em Pretéu, Vila Morena, em Mundéu, Tuim [...]; depois na capital (CAMARGO, p. 41).
Percebem-se, nas histórias narradas, como vestígios, semelhanças entre fragmentos da vivência e experiências do narrador com as do próprio escritor, Oswaldo de Camargo, ficcionalizadas como biografemas, como diria Barthes, emprestando à narrativa seu tom memorialista, compondo a ficção também como rastros autobiografados, exercícios de reminiscência do grande mestre e escritor, o negro Oswaldo de Camargo. Assim, a memória do texto tinge-se também de história. Texto, lugar do encontro.
______________________________________
* Leda Maria Martins, além de poeta, crítica e pesquisadora das formas de expressão cultural afro-brasileira, é Doutora em Letras e Professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Publicou, entre outros, Cantigas de amares (1983), O moderno teatro de Qorpo Santo (1991), A Cena em Sombras (1995), Afrografias da memória (1997) e Os dias anônimos (1999).
