Tempo de vestir sonhos e se olhar em outros espelhos: narrando
vidas em risco em A vestida, de Eliana Alves Cruz*
Fernanda Silva e Sousa**
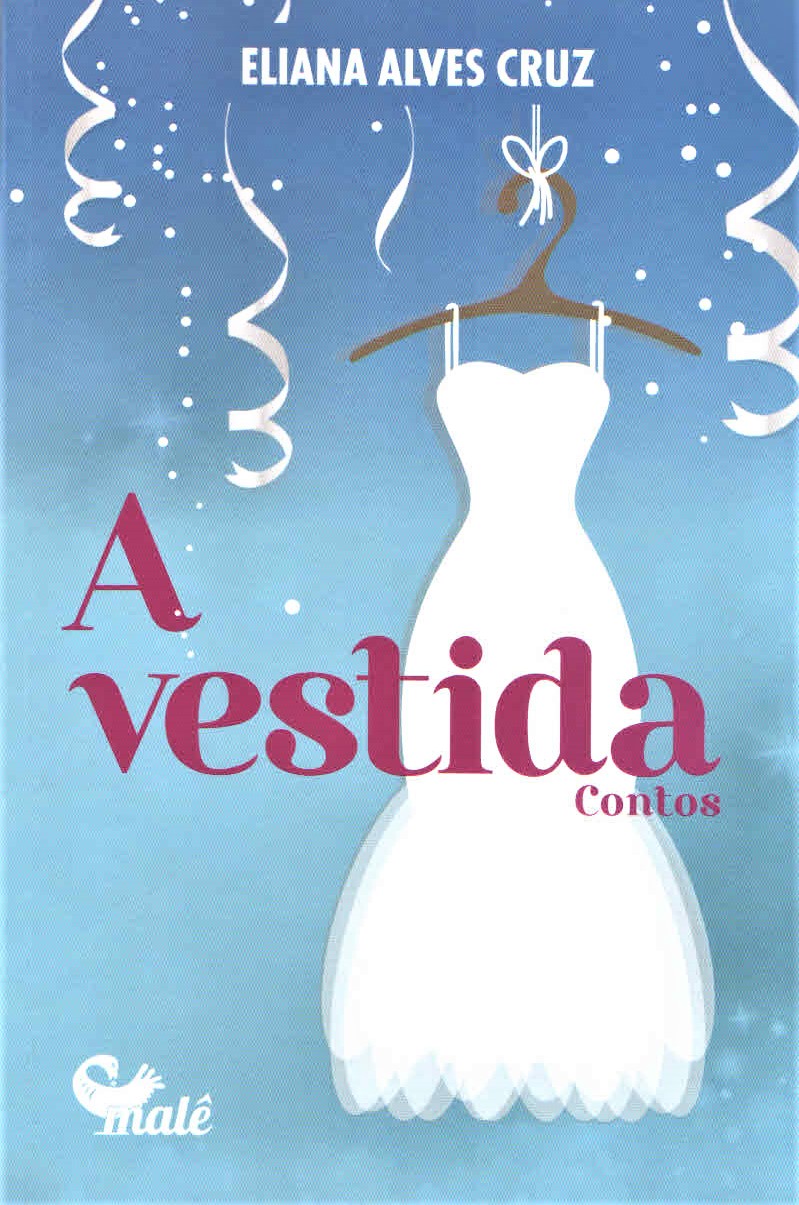 A escritora e jornalista carioca Eliana Alves Cruz tornou-se uma figura proeminente na literatura brasileira com os romances Água de Barrela (2018), O crime do Cais do Valongo (2018) e Nada digo de ti que em ti não veja (2020), ambientados em diferentes momentos e cidades do período escravista brasileiro, nos quais a experiência da escravidão é trazida para o centro da narrativa a partir do modo como era vivida – e desafiada – por personagens negras, especialmente mulheres, unindo pesquisa histórica a uma imaginação literária radical. Já em Solitária (2022), seu romance mais recente, a autora se lançou a um presente marcado pela “sobrevida da escravidão” – expressão da historiadora estadunidense Saidiya Hartman (2021) – no que diz respeito à exploração do trabalho doméstico de mulheres negras, evidenciado pelas denúncias cada vez mais frequentes de trabalho análogo à escravidão, apresentando como protagonistas uma trabalhadora doméstica negra chamada Eunice e sua filha Mabel, numa trama que revela a tenacidade de mulheres que buscam forjar outra vida e encontrar uma rota de fuga do “quartinho da empregada” para o mundo.
A escritora e jornalista carioca Eliana Alves Cruz tornou-se uma figura proeminente na literatura brasileira com os romances Água de Barrela (2018), O crime do Cais do Valongo (2018) e Nada digo de ti que em ti não veja (2020), ambientados em diferentes momentos e cidades do período escravista brasileiro, nos quais a experiência da escravidão é trazida para o centro da narrativa a partir do modo como era vivida – e desafiada – por personagens negras, especialmente mulheres, unindo pesquisa histórica a uma imaginação literária radical. Já em Solitária (2022), seu romance mais recente, a autora se lançou a um presente marcado pela “sobrevida da escravidão” – expressão da historiadora estadunidense Saidiya Hartman (2021) – no que diz respeito à exploração do trabalho doméstico de mulheres negras, evidenciado pelas denúncias cada vez mais frequentes de trabalho análogo à escravidão, apresentando como protagonistas uma trabalhadora doméstica negra chamada Eunice e sua filha Mabel, numa trama que revela a tenacidade de mulheres que buscam forjar outra vida e encontrar uma rota de fuga do “quartinho da empregada” para o mundo.
Com A vestida, seu primeiro livro de contos, escritos ao longo dos últimos anos e reunidos nessa obra, Cruz se mostra novamente uma atenta escritora do presente, compondo um multifacetado retrato de um momento em que a violência racista recrudesce à medida que pessoas negras têm conquistado mais oportunidades. Nesse aspecto, os contos guardam relação com Solitária, uma vez que o reconhecimento dos avanços das políticas antirracistas e de uma maior representatividade negra em lugares de prestígio não diminui a urgência de retratar os efeitos subjetivos e materiais que o racismo produz. No entanto, em vez de caminhar para a construção de narrativas de superação, com personagens exemplares que resistem ferrenhamente à violência, Cruz nos apresenta a vulnerabilidade de vidas que seguem em perigo, como a de Dadau, do conto “Peito de Ferro”, que “estava sempre na corda bamba em que se equilibram os que sonham demais” e “os que veem e sentem todas as dores” (p. 55) e que não estão o tempo todo resistindo; na verdade, há aqueles que se cansam, sucumbem, enlouquecem, morrem, dos quais também é sempre preciso falar.
Nos 15 contos da obra, o leitor se depara com crianças, jovens, mulheres e homens que, em meio a uma realidade violenta, parecem entender que a capacidade de sobreviver passa por um reencontro subjetivo consigo mesmo que não está apartado da ancestralidade, pois os mortos “ainda não partiram nas brumas espessas do tempo” (p. 45), como diz o narrador de “O ferro, a bruma e o tempo”, ainda mais porque cenas do passado podem ser revividas e atualizadas num presente que não é completamente capturado pela violência e tampouco o passado se reduz à escravidão. Neste conto, Cruz justapõe duas narrativas em que o fio condutor é uma aposta na manutenção da vida e no futuro a partir do nascimento de uma criança: a do ferreiro Enitan e sua esposa Dayo que, entre “o império de Oyó e os Aja” (p. 41), numa África pré-colonial, dão à luz a Alágbára, que significa “forte e poderoso”, a quem o pai iniciará no ofício de ferreiro, mas que precisa deixá-lo sozinho com a esposa por causa da eclosão de uma guerra; e a do ferreiro e metalúrgico Edison, casado com Diana, com quem terá um filho ainda sem nome e vive numa comunidade no Brasil, rogando “ao invisível para que o duro ferro que manejava e lhe dava sustento não fosse para filho fria matéria de máscara mortuária” ou “a lança-bala perfurante de um rosto imberbe e peito liso” (p. 45). Cruz aproxima, então, a luta pela vida no presente de uma ancestralidade africana remota no tempo, mas sempre viva.
Nesse processo, também as respostas dos desafios do futuro podem ser descobertas no passado, como o engenhoso conto futurista “Oitenta e Oito”, sabendo que “Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje” (p. 27), como adverte Josefina, protagonista do conto. Nele, um grupo de pessoas que trabalha no Instituto de Pesquisas dos Sentimentos se debate com o “esforço eterno” de conseguir alcançar a empatia entre os seres humanos, pois mesmo mil anos à frente e estudando o tema em três diferentes planetas, eles ainda se comportam como “aqueles homens primitivos do século 21” (p. 23). Josefina, a chefe do instituto, promove, então, “Experiências de Vivência”, que são “viagens no tempo para ver in loco acontecimentos históricos” (p. 24) e, ao propor uma viagem ao tempo da escravidão, lida com a recusa de colegas que não veem sentido em voltar ao sofrimento, uma vez que “a dor precisa ser sublimada e não revivida”. Entretanto, é com uma máquina do tempo chamada Oitenta e Oito que os pesquisadores podem se dar conta que as respostas para os desafios que insistem em existir se encontram justamente no passado que não se quer enfrentar, que não é apenas feito de violências, mas também de “segredos da empatia” (p. 26).
“Cidade espelho”, o conto de abertura do livro expõe, por sua vez, a partir de um país fictício chamado Justiçópólis, o lado daqueles que, aparentemente esvaziados de qualquer traço de empatia, disfarçam suas ações violentas e privilégios por meio da retórica e da imagem de “homem de bem”. Protagonizado por Narciso, um homem branco de elite que vive em Justiçópolis, mais especificamente numa cidade chamada Espelho, “metrópole reluzente refletindo o brilho alvo e limpo da terra de alvos e limpos humanos que tudo venciam, tudo sabiam, tudo comiam, tudo bebiam, tudo produziam e consumiam” (p. 9), Cruz produz uma fina ironia – que lembra a ironia de Lima Barreto em sua caricatura de figuras poderosas –, à figura do “homem de bem” e seu “esforço herdado” (p. 9), cujo processo de subjetivação depende intimamente da aniquilação e do rebaixamento do outro para não enxergar o buraco incurável no peito, gesto que pode colocar em ruínas a armadura que sustenta, no fundo, um homem frágil, medíocre e mesquinho, que se fere com as “farpas da Ego City” (p. 12). É depois de despir o cidadão de bem dessa risível armadura que Cruz nos convida a um encontro com a delicadeza de personagens negros que tentam sobreviver a um país repleto de Narcisos, mas que nem sempre conseguem.
Em “Noite sem lua”, Marilene, uma menina negra de 11 anos, discriminada na escola, vivendo uma infância solitária, em que não se enxerga nas capas e fotos de revistas cheias de rostos brancos, embora sempre “buscando algo, buscando alguém... como ela”, encontra na beleza de uma noite escura, com suas “partes arroxeadas” (p. 19) e sem a presença da lua – em que a lua aqui pode ser vista como uma metáfora da brancura asfixiante do mundo que a circundava –, um espelho onde, enfim, consegue se ver em sua beleza e sorrir “pelo milagre de estar viva para se olhar outra vez no espelho” (p. 19).
Em “Não passarão”, Flávio, um professor de matemática combativo e poeta, lida com um desânimo autodestrutivo diante da violência policial cotidiana que observa cotidianamente e que atinge seus alunos, a que somente a sua flauta, com a qual toca Pixinguinha, parece oferecer uma linguagem possível para o indizível e o insuportável, para “as dores lancinantes produzidas pela falta do combustível que guardava no lugar mais profundo, um canto qualquer de difícil acesso onde ardia uma fagulha” (p. 34). Natureza e música irrompem, assim, como forças imateriais que sustentam a vida negra e insinuam formas outras de estar no mundo e de resistir.
Falando de música, o conto “A formatura” se destaca no livro em seu diálogo com o famoso samba “Casa de bamba”, de Martinho da Vila, ao retratar o retorno de José – “o primeiro diplomado na família inteira, o bacharel tão sonhado e letrado” (p. 70) – à casa onde cresceu como um reencontro com o passado e com os seus ancestrais, como seus avôs já falecidos. Despindo a formatura de sua aura de formalidade e distinção, realizada como uma cerimônia com pompa e circunstância, no conto a palavra “bamba” – tão comumente empregada no meio do samba para se referir a grandes sambistas e exímios conhecedores de um tema – é revestida de um sentido ético e coletivo que a palavra “doutor” parece não dar conta no seio das famílias negras que passam a ter seus primeiros mestres e doutores, mas nunca foram destituídas de figuras de autoridade e saber. Não à toa, a formatura de José só faz sentido e se realiza em comunhão com os vivos e com os mortos num “tal de todo mundo beber e todo mundo sambar” (p. 72).
Por fim, em “A vestida”, conto que dá título ao livro, Cruz aposta na personificação de um objeto altamente desejado e idealizado no imaginário feminino, ainda que a instituição do matrimônio esteja sendo cada vez mais colocada em xeque: um vestido de noiva. No entanto, não é qualquer vestido; trata-se de um vestido de noiva de brechó, já utilizado por diferentes mulheres, que reivindica ser chamado de “a vestida” e “que já fora salpicado com sangue que brota brutalidade do sentimento de posse” (p. 105), numa referência delicada e, ao mesmo tempo, cirúrgica, da violência doméstica e do feminicídio que já vitimou tantas mulheres no Brasil. Nesse sentido, ao desejar desfilar “pelas passarelas de muitos e muitos carnavais”, “girar pelos bailes, arrastando confetes, brilhando purpurinas e enroscando serpentinas nos corpos” (p. 105) e não mais em casamentos, o vestido do conto, em seu anseio por liberdade e prazer, parece simbolizar um dos movimentos que animam o livro: o de que é sempre tempo de sonhar, contar e viver outras histórias, mesmo com as cicatrizes de uma violência irreparável.
Nota
* Esta é uma versão expandida de resenha publicada originalmente na Folha de S. Paulo, Caderno “Ilustrada”, em 16/12/2022.
Referências
CRUZ, Eliana Alves. A vestida. Rio de Janeiro: Malê, 2021.
HARTMAN, Saidiya. Perder a mãe: uma jornada pela rota atlântica da escravidão. Bazar do Tempo: Rio de Janeiro, 2021.
_______________________________
** Fernanda Silva e Sousa é professora, tradutora, graduada em Letras (USP) e doutoranda em Teoria Literária e Literatura Comparada (USP).
