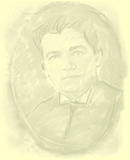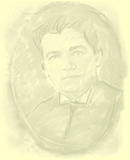|
O FATO E A TEORIA
Ex fabula lingua.
Inserido nas leis gerais da vida como unidade biológica, mas superando o plano biológico pelo plano do espírito, o homem criou sua própria estrutura do seu ser histórico. Se o animal é uma máquina de vida, o homem procura ser um mecânico da vida. E é uma expressão espacial em busca de tradução temporal.
Em presença da coisa, que tem preso um sentido,
reage o animal. O homem porém, acumulando no tempo reações
que interioriza e por que libera o sentido, aprendeu a reagir
tanto ao sentido da presentação como ao sentido
da re-presentação: ao sentido da coisa
e ao sentido do signo. Em presença da coisa, dois
irracionais podem sintonizar uma reação. Dois racionais,
até na ausência dela são capazes de trocar
inteligência, mediante os signos. Só o homem, sendo
capaz de representação, é capaz de comunicação
mental..
Exercendo, por meio de falas, o misterioso
dom da linguagem, a humanidade forjou devagar um instrumento
de expressão chamado língua. Os signos
vocais, agarrados primeiro a um contexto presencial concreto, progressivamente
depois se foram desprendendo. Deve ter sido uma lenta liberação
do homo loquens, a enriquecer de replenação imaginosa
o vocábulo, que ia melhorando de eficiência simbólica .
Assim ergueu a linguagem comunicante acima da base geral,
meramente expansiva, da linguagem animal. Ia enchendo
de representação mental a sintonia fisiológica
da reação presencial, unida a vozes que se fizeram veiculares,
vozes intercambiais, valores fiduciários da comunicação.
Ato social, a fala socializou o homem, desenvolvendo
o animal social, o zóon politikon, elevado acima
da gregarice irracional.
Das falas de Primo foi nascendo em Secundo um
estado de língua, estado individual repercutido de efeitos
sociais. A língua e um depósito pessoal, feito de
reflexos sociais - como o próprio homem, ser crescido à imagem
e semelhança do meio que o plasmou.
O MÉTODO
Como animal histórico, nutrido, de intussuscepção vivencial,
o homem estendeu o seu mundo em projeções de presente,
passado e futuro. Querendo ser homo sapiens fez-se homo
etymologicus, voltado para as origens, teimosamente inclinado
sobre a rampa do pretérito. Compreende-se por isto que a
lingüística tem de ser histórica,
pois estuda a expressão de um ser determinadamente histórico.
Ela deve estender-se no espaço e mergulhar no tempo, não
mediante operações desrelacionadas, mas olhando os
fatos no quadro de suas coordenadas espacio-temporais.
Desde que, reduzindo dialetos, aprendeu a configurar o espectro da língua indo-européia, ela adquiriu essa obrigação bidimensional, exigida pela projeção do objeto estudado.
A língua que nasce filtrada em Secundo das
falas de Primo, já nas ce e cresce dialetal, urgida de seu
sentido metamórfico, e metassêmico, evolvendo
com a marcha histórica do grupo, constrangida nos efeitos
do solipsismo espacial
e dos distanciamentos étnicos. Quem está perto me
nos percebe. Só a perspectiva dos séculos o sabe
mostrar, pelo confronto dos momentos, É como o ponteiro
das horas, que parece imovel, junto à pressa trepidante
do ponteiro dos segundos.
Um dialeto que evolve e um dialeto que envigora
e fulge, no esplendor social, ou que mirra e senesce, na miséria
das decadências. Ora segue e persiste, sob a misericórdia
dos fados, ora cede à invasão e desaparece.
Embora as oposições étnicas
lhe chamem línguas, todo estado posterior da língua
indo-européia é um dialeto. Os dialetos são
outros tantos estados posteriores. Só a língua e
uma, embora não una, por estar sempre movida de energia
evolutiva.
Ante nossa contemplação, ela é sempre
anterior ao indivíduo, que a recebe feita, nas falas de
seu clã. Entretanto, no dia em que, como Primo, começa
a falar, aí começa uma contribuição
de mudança, tingida nas oscilações do social,
pois o homem afina o que diz nas repercussões que a vida lhe imprime
na alma.
O ENGANO
O fato de a anterioridade observável ser
a da língua gerou uma aparência de primazia que tem
sido nociva à metódica. A pesquisa, em vez de estudar
falas e delas extrair a língua, logo instalou a língua
como coisa em si. Em vez de primeiro explicar a língua pela
fala, primeiro quis explicar a fala pela língua. Em vez
de enxergar na língua um recurso de expressão forjado
pelo homem, quis descobrir nela, misteriosa, uma expressão
da natureza, uma tradução do mundo, um valor sobreposto
ao homem e seu poder.
Ora se a língua, lembrança na memória,
e um recurso mental, então ela não é fora
do indivíduo nem superior ao seu poder. Aquela intangibilidade
asselada pelos neofisicistas proveio de não terem eles observado,
socialmente, a capacidade mímica do homem.
O mudar que tanto os preocupou há de alegar-se, não
em termos de "poder", mas em termos de "querer'.
E fica visto que o indivíduo, comumente, não quer
mudar a língua. Está no j eito de sua economia vivencial
ir repetindo o que o grupo repete. Entretanto, mesmo pensando que
repete, talvez matiza a expressão de algum efeito pessoal,
veiculado pela recepção inter-individual. Sem querer
ou por querer, o indivíduo influi mudança, altera
n do a retransmissão, já por ter ouvido mal, já por
não ter sabido repetir bem, já por se haver levado
de impulso pessoal.
AS LEIS
Do ponto de vista da prolação fabular, se há leis para a evolução da morfia fônica não são leis da língua e sim leis da vida, instaladas no plano biológico ou no plano psicológico.
Do plano biológico é por exemplo
o limite imposto à capacidade do aparelho de fonação,
instrumento dos talvegues fônicos, leitos de expressão
do fonema roteados pela ação prolatória do
exercício mímico. Por um confronto poliglótico,
pode ver-se de quanta habilidade fônica o aparelho e capaz,
embora a prática o reduza a fronteiras menores, na economia
peculiar de cada dialeto, sempre limitado em fonemas. Educa-se
neles um indivíduo que poderia ter sido educado
na prolação
de muitos outros, se fosse criado em muitas línguas.
Esta conceituação, diversa da conceituação
neofisicista, olha a evolução da matéria
vocabular como fruto de um deslizamento de talvegues, nascido
de impulsos que a observação pode anotar, longe
porém de os atribuir a regularidade mecânica.
É um deslizamento que a consciência dirigida poderia
impedir ou desviar, mediante exercício
de adestração.
Catalogar valores fônicos de uma língua é trabalho que nos tem levado a excesso de "foneticismo". É serviço que tem vantagens e ajuda na educação. Entretanto, se o que visa a lingüística é interpretar o fenômeno língua, então deve recorrer ao plano psíquico e não ao plano fisiológico.
No plano espiritual estão dois grandes regedores da língua: o princípio de analogia, inspirador da nivelação a que tende a morfia estrutural, e o princípio de economia psíquica, regulador da energia prolatória, redutor de abundâncias mórficas, contrator de massas fônicas. Balanceado pelas reações do impulso de clareza e do impulso de ênfase, a economia psíquica influi economia mecânica.
OS CONTEXTOS
A unidade da fala é a frase.
A frase é um todo feito de sintaxe vocabular,
mergulhado numa sintaxe de contextos não vocabulares. Um
ato de fala consta:
(1) do contexto fabular, feito de "vozes";
(2) do contexto teatral, feito de um espaço
ocupado pelas presenças de Primo, de Secundo, e das coisas;
(3) do contexto mímico, feito de
atitudes, teor fisionômico, gestos dícticos e plásticos.
Observe-se bem que a língua não filtrou
sua densidade e colorido só das palavras que hoje podem
representar todo um conteúdo de mensagem. Tudo que alcançou,
foi coando devagar, de uma infusão de contextos cooperativos:
primeiro deve ter sido o gesto presencial, sublinhado pela voz;
depois, no progresso, a voz sublinhada pelo gesto - adminículo
espontâneo que a plenitude fabular foi reduzindo,
mediante enriquecimento da fala da ausência e, sobretudo,
da fala escrita que é uma fala de ausente.
A interpretação da fala pede exame
a dois outros contextos, intimamente relacionados: o contexto
pessoal de Primo, tingido de subjetivadades, e o contexto
social - feito de meio humano espaço e tempo -
conjunto de fatores que se modalizam no contexto pessoal.
OS MOLDES
Um ato de fala contém a comunicação
de uma forma psíquica veiculada numa forma fônica,
modelada na matéria da voz. Constitui o contexto fabular.
Do estudo de sua estrutura, feita de palavras,
melodia e ritmo, surge a figura dos moldes,: o molde
frástico, o molde melódico e o molde ritmico. O
molde é uma configuração mental, abstraída
das falas, instaladoras do uso. Deles e que Primo se lembra e
vale, na hora da fala seguinte. A frase e da fala mas os moldes
são da língua. São objeto de uma sintaxe
da frase, frangida em sintaxe dos sintagmas, parcelamento que
gera a figura do molde sintagmático.
Essa marcha que da fala vai à língua é uma operação racional. Espontaneamente não e assim, pois a língua chega ao indivíduo por instalação psicológica, na lenta ruminação de suas vivências banhadas em falas. Na hora de como Primo exprimir-se, então lhe serve a memória as convenientes lembranças: o molde da necessária forma vocabular, os distribuídos sintagmas em seus lugares, vestidos de sua melogia e do seu ritmo prolatório.
A frase de estado arcaico, nascida de mentalidade
pré-aristotélica, oferece resistência ao logicismo
do conceito oração. O seu contexto fabular, fortemente
agarrado à sintaxe do contexto teatral e do contexto mímico,
impede-se nos elementos "aqui e agora" - o que o deixa
nocionalmente pobre, carecido de seus apoios na visualização
da fala-de-corpo. Os dialetos indo-europeus estão cheios
de persistências assim, estruturas truncas da expressão
emotiva, que a análise interpreta parafrasticamente. Em
ritmo com a eficiência discriminadora do espirito, foi corando-se
na discriminação expressiva, a conveniência
entre sujeito e predicado. A frase foi tomando dimensões
que igualam ou superam as da oração.
FORMA FÔNICA
Com licença de Saussure, vamos especificar
o sintagma como elemento funcional da oração. O
sintagma e univocabular, constando de uma palavra, ou
então plurivocabular.
Palavra e uma simbiose fabular do vocábulo e do termo, realizada pelos morfemas.
Morfema (sintático) e aquela sugestão
de endereço, realizada na frase por alguma deflexão
mórfica, posicional, melódica, rítmica,
O morfema sintático e um morfema frástico.
Não é um morfema vocabular, pois o estado
vocabular é exatamente o estado de nudez, fruto da análise
desmorfemadora. O morfema não pertence ao vocábulo
e sim à língua, da qual saem os dois, para o serviço
da frase.
Realizando a simbiose
fabular, do vocábulo e do termo, os morfemas frásticos
endereçam a noção às categorias funcionais
e situacionais da fala.
Ao morfema frástico, elemento relacionador,
fica-lhe bem o nome de morfema sintático ou o
de morfema categórico.
Além das categorias do nome e do verbo -
assim mal nomeadas, pois a cataegoria é da lógica
e não da servilidade vocabular - tem faltado à gramática
dar seu cuidado às categorias do contrexto de situação,
feito de espaço teatral, campo de exercício da díctica
relacional e que a fala, mediante "vozes" de alusão,
converte em espaço fabular, espaço de sucessão,
transformado o díctico em anafórico.
O morfema de presença mórfica - diverso
do posicional, do melódico, do rítmico - ou é
morfema encadeado, como flexão, ou morfema livre,
com aspecto vocabular e conteúdo relacional. É uma
espécie de sub-vocábulo, pouco feito para a função
de palavra.
Ao morfema sintático opõe-se o morfema
semântico, morfema vocabular que, unido ao semantema,
lhe altera as dimensões do conteúdo: pedra pedrada
pedreira fazer refazer... É um morfema nocional
que se estuda num sub-capítulo da semântica - a
morfologia vocabular semântica, diversa da morfologia
vocabular fônica.
Vocabulos e morfemas, elementos da língua,
servem à fala, na apos simbiose
da expressão. Com os vocábulos a, solitário,
lua, estrada, banhar começou o poeta a construir uma paisagem:
a lua banha a solitária estrada. Com cinco vocábulos
armou três sintagmas: um nominativo, um verbo e um acusativo.
E terminou com a mesma frase, depois de introduzir uma permuta
no molde frástico: a lua a estrada solitária
banha.
Desmontando sintagmas de falas é que um observador pode configurar a morfologia, esse jogo de sugestões funcionais, evidenciável na diferença entre morfemas e semantemas.
Ordenando a valia dos contrastes relacionais ou
morfemáticos, obtém-se o capítulo da morfologia
fabular ou morfologia da frase e que não e morfologia
vocabular.
Desculpe-se o monótono, mas insistimos em
que a morfologia vocabular de nossa tradição
está enganada: atribui a vocábulos o que é
da frase e da língua. É uma ignoratio
elenchi em matéria importantíssima, substância
da própria estrutura da língua. Chama-se tal morfologia
de morfologia fabular, frástica ou sintagmática.
Para o vocábulo existe - ou morfologia vocabular
fônica ou morfologia vocabular semântica. A primeira
e fonética; a segunda relaciona sentidos cognações
e origens.
A sedução vocabular, que fez antepor
à sintagmática uma falseada morfologia, fez também
que a metódica deixasse de começar pela fonética
sintagmática, por onde entraria bem, entrando pela
estrutura fônica da frase - melodia, ritmo. e efeitos fônicos
fabulares. Da fônica da frase é que se passa à
fônica do vocábulo, da silaba, do fonema. Das imagens
presentes na fala e que se extrai, para valores de língua,
a figura do molde vocabular, do molde silábico, do molde
fonético.
É inteiramente outro o mundo que se revela aos olhos de um observador cuja análise partiu da fala. Aí se reduz o vocábulo à sua correta modéstia servil. Se a fala são frases e a frase são sintagmas e o sintagma um arranjo de vocábulos e morfemas, entao o vocábulo e um pormenor do pormenor. E a fonética, por isso mesmo, um pormenor do pormenor do pormenor. Tema substantivo para a fisiologia ou para a física, ela não passa, para a língua, de matéria tranqüilamente adjetiva - um expediente útil na adestração prolatória. A lingüística deve ter mais que fazer do que ficar zumbindo, vocabularmente, na colmeia sonora.
FORMA PSÍQUICA DA FRASE
Apesar da preeminência vivencial do vocábulo,
a essência da fala não está na matéria
fônica - matéria que a análise vocabular desmonta.
Está sim na "intenção" de Primo,
numa síntese espíritual que essa análise não
revela.
O que arrastou a lingüística a desvarios
e exageros como os do atual foneticismo, foi, além do velho
efeito vivencial, o fervor cientificista do século XIX,
ao tentar reduzir a limites irracionais e externos um produto
da atividade criadora do espírito, uma crase de
fantasia e estesia.
O estudo da forma fônica deve subordinar-se
ao estudo da forma psíquica, juntando a morfologia
da fala à semântica da fala.
Como faz a morfologia, também a semântica pode abranger a frase, o sintagma e o vocábulo.
A semântica da frase estuda-lhe
aquele sentido feito de sentidos, marcados por endereços
funcionais, isto é, por elementos de forma nesta f(ô)rma
de dizer que são os moldes. Aí vai a semântica
pesquisando influxos que podem emanar da posição
dos sintagmas dentro do molde frástico; ou de morfemação
dos sintagmas dentro do molde sintagmático; ou dos efeitos
de acentuação, dentro do molde melódico,
e de compasso, dentro do molde rítmico.
Em tais caracterizações é que se aninha, variamente, o sentido de uma frase que seja expansiva, interrogariva, injuntiva, deprecativa, desiderativa, enunciativa...
A semântica do sintagma plurivocabular
estuda a localização do sentido sintagmatico, exibido
na relação entre regente e regido, através
do regime. É uma relação binominal que se
acha em toda estrutura de f ala.
A gramática escolar tem o costume de ir
da análise léxica à análise sintática,
deixando de exercer o aprendiz na mais importante das análises
que e a análise binomial de cada sintagma. O estudo
da relação regente x regido, da relação
a x b, vista em sua intimidade, exibe os melhores segredos da
estrutura frástica. Uma boa análise, começando
na fala com sua mensagem, passa á.fra se com seus moldes
chega à oração com seus sintagmas e desce
ao sintagma com seus elementos. Aí, no sintagna, é
que se produz a evidência do vocábulo.
A semântica do sintagma univocabular
recenseia os sentidos a que o vocábulo costuma servir,
na imersão fabular. Tais sentidos se revelam em confrontos
de toda fala e uso, no tempo e no espaço. Sentidos que
se fio: costuma servir, na imersão fabular. Tais sentidos
se revelam em confrontos de toda fala e uso, no tempo e no espaço.
Sentidos que se vão trocando, por esquecimento do anterior,
ou se vão acumulando, por coexistência. Faz-se um
dicionário.
Na semântica do sintagma é que poderia
caber algum capítulo sobre as partes do discurso, famoso
destaque da metódica, nem certo nem tranqüilo, a começar
pelo titulo, que varia: partes do discurso, categorias gramaticais,
partes da oração, espécies gramaticais...
Se a base da classificação o sentido, o
caso então não é de morfologia fônica,
e sim de semântica. O vocábulo e apenas um elemento
da língua. Parte do discurso é o sintagma.
O capítulo poderia ter promessa metódica
se houvesse na fala, e daí na língua um estabelecido
modo entre o vocábulo e sua função, entre
o veículo e a veicularidade, permitindo assim um juízo
último, um critério categórico. A fala, infelizmente,
é um caminho de engano e mudança. Cada língua
amontoa, no tempo e no espaço como patrimônio, os
efeitos pessoais da hipersemia, da hipossemia, da assemia, do
deslizamento nocional e relacional, da energia analógica,
do impacto inovador. Além disto, o contexto fabular, que
é um dos contextos, vive sujeito aos influxos dos contextos
teatral, mímico, pessoal, social.
O que importa primeiro na fala é a função
de "signi-ficar" - função feita de alusões
ao ser, ao processo, à qualidade, à relação
espacio-temporal e conceitual. Depois é que se distribui,
a este ou aquele tipo, uma função, que não
esta presa necessariamente à espécie vocabular.
A função não nasceu de alguma
categoria vocabular. Ao contrário, a categoria vocabular
é que está sempre querendo instalar-se por si, tomando
força da iteração funcional. Ligado não
à morfologia mas à semântica, este seria um
capítulo das categorias funcionais, ou então
das espécies vocabulares.
Inibidos por uma torsão que o mito vocábulo
conseguiu, os lingüistas alegaram imprecisões de fronteira,
na fronteira, na fronteira vocabular. Por melhor exemplo, tomaram-se
amostras de línguas em estado social pré-aristotélico.
Ora, cumpre notar que a operação de exibir vocábulos é uma
operação lógica, uma tarefa de análise
apropriada pela tradição escrita. O molde vocabular,
configurado na mente, é fruto de um hábito reflexivo,
em conluio com efeitos "visuais" da imagem grafica. Não
admira que possa haver escurezas, na língua e fala de gente
não dada ao exercício da objetivação.
O ter querido ir do vocábulo à frase
acabou produzindo uma incerta mistura de línguas e de fala.
Quem vai da frase ao vocábulo, e dá primazia ao
sentido, encontra jeito e método. Por mais que coincida
com o vocábulo, o sintagma dele difere. Ante a plurivalência
do vocábulo, o sintagma tem univalência. E tem endereços
sintáticos, ante a nudez funcional do vocábulo.
E toma sintomas na luz dos outros contextos, enquanto o vocábulo
se escurece na indecisão penumbra e limbo, do seu estado
de língua.
REVISÕES
A língua está na fala, a fala está na
frase, a frase está nos sintagmas: o sintagma está num
arranjo entre vocábulos e morfemas.
Com tanto assunto maior, é um pecado ficar girando no vocábulismo. A lingüística e a filologia devem unir-se, tornando-se mais fabulares, empenhadas no exame de toda fala e de toda a fala, revendo alguns conceitos da ortodoxia reinante.
I - Parece que está superada
a idéia saussuriana
de antinomia entre língua e fala; parece também que
a fala teve sua cotação
melhorada, erguendo-se da inferioridade em que a deixara o mestre genebrino,
para quem lingüística, propriamente, era só a da lingua.
Falta porém caminhar mais e inverter a primazia, pois a língua é um
produto da fala.
O enunciado "língua e fala" tem
sentido do ponto de vista regenerativo, pois o indivíduo,
para nossa observação, vem sempre depois da língua.
Teoricamente, porém, vale o ponto de vista genético,
e deve o enunciado inverter-se em "fala e língua".
Na fala e que se vê a língua e pela fala vê
a língua quem a quer classificar, embora o procedimento
comum, tomado de reminiscência normativa, esteja sempre
mostrando que na língua se vê a fala. Coloque-se
o observador na posição de ouvinte, para melhor
comprender: verá que a fala é de Primo e a língua
é de Secundo. Verá que este desmonta falas e ajunta
língua, a partir das falas. Portanto, da fala
deve partir o estudo. Só por falaz inversão é
que se fez lingüística da língua pela língua,
empavesando-se a esta em altura domínica, vestida de intangibilidade
ante o poder do indivíduo, dotada de externidade social,
de autogênese, de autonomia, de sibi-sistência, ante
a submistião da fala, ancilar e doméstica.
II - Já é tempo de firmar por boa latitude o conceito da fala, de vencer aquele preconceito de desigualdade entre lingüística é filologia, entre a "ciência" dos envaidecidos botânicos da fala cotidiana e o mero divertimento estético
dos jardineiros da fala trabalhada.
A fala coloquial é uma fala a Secundo "presente". A fala escrita, a Secundo "ausente". Numa, o contexto fabular se faz pobre ou econômico, mediante subvenções do contexto teatral, do contexto mímico e do contexto pessoal, rico de subendendidos e inteligências ocasionais. Na outra, o contexto fabular pôde obrigar-se a riqueza e dispêndio, construindo com 'vozes" ausências da ausência dos outros contextos. Não há diferença de substância, porém só de qualidade e de função social. Projetando no tempo mediterrâneo a virtude do milagre helênico, a fala escrita fez do latim um veículo da grande hominização do homem ocidental. Faltasse a fala escrita e a Europa teria ficado a vegetar na sibi-mesmice tribal da rasteirice pre - aristotélica. E não teriamos Lingüística.
Encadeando a evolução e acumulando-se no tempo, a fala escrita ensejou confrontos como os que podem ir de Rui a Cícero, através dos planos sincrônicos por que se endereça uma perspectiva diacrônica. Pesquisando sinais, balizando áreas, evidenciando sucessões, abrangendo ex tensões, estendendo a continuidade, a metódica pôde configurar a grande língua indo-européia, dentro nos seus quarenta séculos de comprovação ou indícios.
Se a fala escrita era obrigação da filologia e agora se vê que também o é da lingüística, então não há diferença de objeto, cabendo razão à preguiça de mudar que têm os ingleses, quando chamaram de "filologia" aquilo que os franceses dividem em "filologia" e "lingüística".
Ante o mesmo objeto, poderá continuar a diferença dos objetivos, ocupada a filologia em ordenar a matéria no campo dos contextos (fabular, pessoal e social) enquanto a lingüística se entregue ao trabalho de reduzir, de abranger, em busca da essência, em busca do lastro persistente da expressão, na expressão do próprio ser do homem.
Se há quem pode contar vantagens é a filologia, depois que adotou o bidimensionismo histórico. Para interpretar bem uma fala, espelho da língua, cumpre seja o contexto fabular mergulhado no contexto pessoal de Primo - e ambos, no contexto social de seu tempo e espaço. Para isso valeu o formidável acervo da filologia clássica.
Que a lingüística instale princípios, arrimada em provas de filologia, fazendo-se lingüística geral. Que ela seja a filosofia da filologia.
III - Recuar as balizas,
na história de uma língua, é aumentar-lhe
a idade, na ampliada notícia de sua existência.
Isto fez a
imersão bidimensional do comparatismo, ao calcular a área temporal do indo-europeu. Viu-se que a multiplicidade atual é sucessão, por via cissípara, de uma antiga unidade, no início da vasta e misteriosa diáspora, fluxo de tribos medido em ondas de séculos. Por via de recessão, a pesquisa criou o esquema da redutibilidade: planos históricos
sotopostos.
Se a crença na morfia vocabular engendrou o comparatismo da primeira instalação, o comparatismo dos grandes lanços, foi no entanto graça da filologia românica influir-lhe verossimilhança, à fôrça de continuidade testimonial da fala escrita. Na rota bimilenar, seguramente demarcada, foi possível rastrear, pela fieira, aquela metamorfia fônica endereçada, que tanto deslumbrou o mecanicismo de Schleicher e dos neofisicistas da Escola de Leipzig.
IV - Das premissas do comparatismo
e do enunciado genético, a metodica do indo-europeu deve extrair um conceito singulativo de língua: não existem línguas, existe a língua - patrimonio do "homo loquens". Caminha com ale e, enquanto caminha, vai modalizando-se em dialetos. Nos longes nevoentos em que foi vislumbrado o indo-europeu, como aviso de fronteira,, esta um "nec plus ultra". Mas assim como estados posteriores são estados dialetais dele, também o indo-europeu deve ser dialeto de um outro estado anterior. Chamá-lo de língua indo-européia não é opô-lo a outras línguas, mas apenas erguê-lo, como extrema recessão,
no fim de linha de sua linha dialetal.
A linguagem é o dom, a fala o exercício e a língua o produto do exercício. É um produto vivencialmente filtrado no espirito. Não de uma vez, em vocábulos que a análise confina, mas progressivamente, sob forma de magmas fabulares, uma ganga sintagmada, que a evolução mental vai modelando em f(ô)rmas de melhor autonomia. Percebe-se isso no mimo de marcha do indo-europeu, feita do sintético para o analítico.
V - Todo estado continuado é
um mesmo dialeto e todo estado posterior é outro dialeto.
A lingüística pode assinar ao latim quatro posições
dialetais: o estado pré-romano, o estado romano,
o estado românico e o estado pós-românico.
Anulando certas incongruências em voga, a filologia deve aprofundar metodicamente a perspectiva dos três últimos, sob noção de uma só língua. Latim, romance e português, não são três línguas e sim três estados da mesma língua. Que o leigo leve espanto, não porém o entendido, ao se dizer que "o latim não é língua morta" mas apenas estado anterior da mesma língua de que o português é um estado posterior.
VI - Todo estado de língua é uma persistência geral, tachada de resíduos velhos e ameaçada de mudanças novas. Entre as forças contribuintes da mudança, cumpre arrolar os efeitos da aculturação, gerada nos contactos dialetais, e geradora de empréstimos.
Ao lado das imperantes leis fonéticas, feito
pobres parceiros, já os neofisicistas haviam enumerado
a analogia
e o empréstimo. Conforme seu trânsito e distância,
ele pode ser classificado como: endodialéctico
- na area espacial ou temporal do mesmo idioma; homodialéctico,
se feito entre dialetos próximos, como os neolatinos; alodialéctico,
quando distantes, como português e alemão; aloglótico,
para dialetos não filiados a comunidade anterior.
Os efeitos de aculturação produzem-se
por sincronia social ou por diacronia histórica. Tanto a
grande helenização do latim romano, como a pequena
helenização cristianizante do românico, são
frutos de uma sincronia social. Ao passo que é repristinação
histórica ou diacronia, o pequeno renascimento carolíngio,
no fim do românico, e o grande renascimento europeu, nos
começos da plenitude pós-românica.
Como fenômeno de oscilação nacional, a repristinação diacrônica se manisfesta em ufanias vernáculas, gerando preocupações como a de Rui, tão empenhado no gosto de repor em circulação peculiaridades esquecidas, de nossa língua.
A helenização de Roma ensinou, em latim, como se faz, do grego, uma transvocabulação. Fixado tradicionalmente, o processo tornou-se fonte de riqueza técnica: resultado de uma latinização plurissecular, usado como recurso internacional, um empréstimo do grego ou do latim pode chamar-se de patrimonial.
O Professor Diego Catalán faz,
na quinta sessão ordinária, no dia 25 da agosto,
seu relatório sôbre a comunicação
acima, ressaltando o caráter teórico e geral
da mesma, que encerra, a rigor, uma ordenação
e interpretação dos fatos, teóricos
do fenômeno lingüístico, do ponto de vista
social, psicológico e da comunicação
mesma. Reconhece que unidos obstáculos, para consonância
com a matéria da comunicação é a
terminologia especial de que se serve, mas reconhece a valia
dos conceitos. Acha, porém, que por sua feição
conspectiva o trabalho apresentado perde um pouco em
objetividade, dificultando, destarte, a discussão.
0 Professor Sílvio Elia tece considerações
sobre a parte di prioridade da "langue" sobre
a "parole" ou
desta sobre aquela.
O Professor Lourenço de Oliveira
esclarece certos aspectos de sua comunicação
e sublinha as diferenças apontadas entre a lingüística
vocabular e a língüistiea
fabular.
O Professor Ernesto faria encerra os debates,
dando por aprovada a comunicação.
|